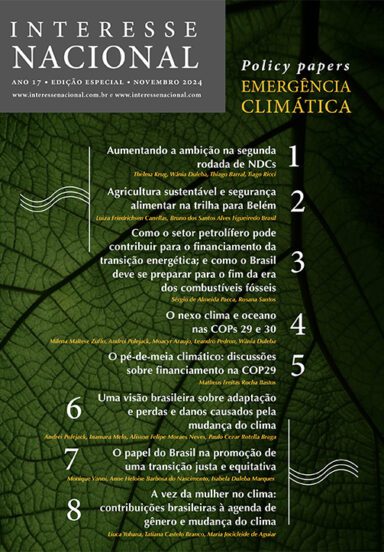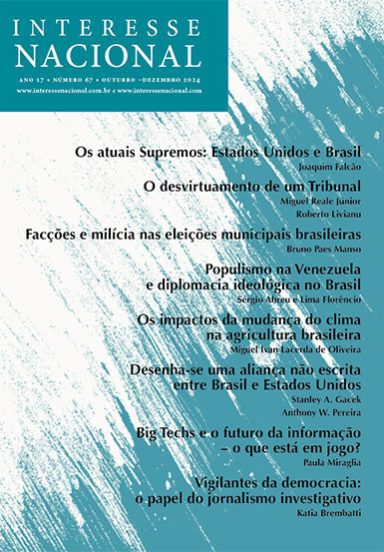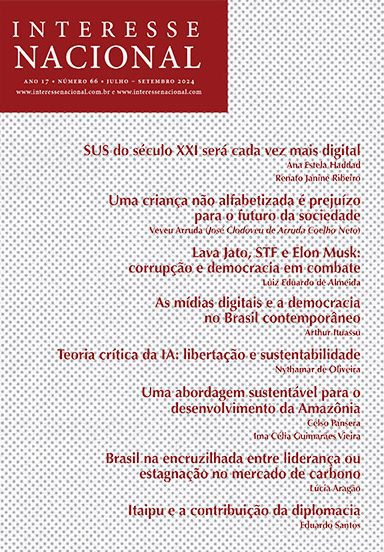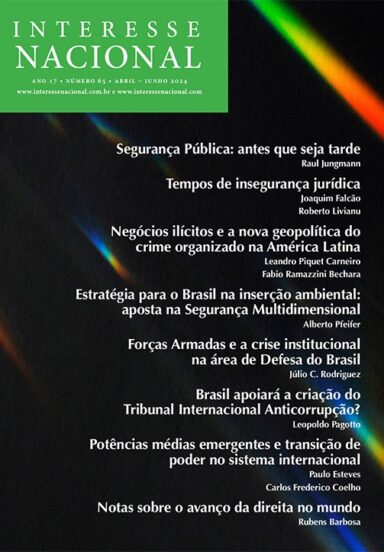O papel do Brasil na promoção de uma transição justa e equitativa
7 Transição justa e equitativa
Resumo executivo
Os últimos desastres climáticos vividos pelo Brasil escancaram uma conhecida correlação entre a vulnerabilidade climática e a desigualdade social. Nossa população preta, parda e pobre é muito mais sensível a deslizamentos uma vez que habita residências irregulares em encostas e áreas de várzea. Vidas precarizadas não se reerguem facilmente de quebras de safra, ou tragédias urbanas. Essa correlação – entre vulnerabilidade e desigualdade – é um fenômeno global. Os países mais pobres têm menos condições de arcar com os custos de se adaptar à emergência global do que os mais ricos. Também têm muito menos recursos para contribuir para metas de mitigação. Some-se a isso que nas maioria dos casos, têm emissões per capita e emissões históricas muito mais baixas que os países ricos. Essa inequidade inerente à crise climática é um vetor transversal do processo de negociação da UNFCCC. Ela se declina em temas chave como “fair share” de mitigações, adaptação e perdas e danos, e tem profundas implicações para discussões sobre financiamento climático. Examinamos aqui como esses temas se declinam no contexto brasileiro para extrair recomendações para o processo de negociação na trilha Baku–Belém.
Mitigação, responsabilidade histórica e “fair share”
As emissões de gases de efeito estufa (GEE) sempre estiveram presentes na atmosfera da Terra por bilhões de anos, desempenhando um papel natural no aquecimento do planeta [1]. Contudo, o aumento acentuado dessas emissões desde o início da era industrial intensificou o efeito estufa, resultando em mudanças climáticas alarmantes que enfrentamos hoje [2].
As emissões históricas (1850-2021) e sua contribuição para o aquecimento global variam significativamente entre países e grupos de países [3,4]. Quase 80% das emissões históricas cumulativas de CO2 provenientes de combustíveis fósseis e uso da terra (Land Use, Land-Use Change, and Forestry – LULUCF) vieram de países do G20, com as maiores contribuições dos Estados Unidos da América (19%), da União Europeia (13%) e China (13%), enquanto os países menos desenvolvidos contribuíram com apenas 4% [3,4]. A partir de 2021, a China passou a ser o maior emissor de GEE (30%) [3,4]. Apenas 3% foram emitidos pelo Brasil [3].
Nesse sentido, Europa, EUA e China têm responsabilidade histórica pela crise climática, enquanto países em desenvolvimento estão sendo penalizados com a necessidade de implementar estratégias de crescimento carbono neutro. O conceito da responsabilidade histórica é recebido pela UNFCCC por meio do princípio CBDR (Common but Differentiated Responsibilities) – responsabilidades comuns mas diferenciadas, que determina que países desenvolvidos têm a responsabilidade de financiar e capacitar países em desenvolvimento para que adotem estratégias carbono neutro e se adaptam aos efeitos das mudanças climáticas.
No entanto, atualmente o Brasil – assim como Índia e China, que integram o grupo de negociação dos BRICS – é o sexto maior GEE estufa do planeta, o que o coloca em posição muito diferente da maioria do grupo dos LDCs (Least Developed Countries), que continuam tendo emissões muito baixas e altíssima vulnerabilidade. As discussões têm evoluído para tratar de CBDR+RC (respective capabilities), uma vez que muitos países, como o Brasil, têm capacidade substancial para promover grandes avanços de mitigação, e uma responsabilidade crescente.
Essa condição nos coloca numa situação negocial especial, em que, apesar de nossa baixa responsabilidade histórica, precisamos adotar forte compromisso de mitigação em nossas NDCs (Nationally Determined Contributions). As discussões em torno do que seria um “fair share” [5] (uma parte justa) de esforço brasileiro foram objeto de análise pelo Observatório do Clima (2024) [6], que facilitou o debate realizado pelo IRICE que deu base a esta análise. De acordo com Observatório do Clima (2024), esclarece-se que o Brasil tem níveis de emissão bem acima da média global, e constata-se a necessidade urgente de adoção de medidas mais firmes de mitigação em nosso território – e inclusive coloca o Brasil entre os cinco maiores emissores históricos por conta de novos dados de desmatamento de mata atlântica não computados nas análise citadas acima.
O conceito de “fair share” também abre espaço para discussões sobre equidade interna nos esforços de mitigação, o que cabe como reflexão especialmente premente num país de desigualdades históricas como o nosso. As estratégias de mitigação que se implementarão no Brasil devem levar em conta nossas própria história de desigualdade, e buscar privilegiar soluções que minimizem esse histórico e promovam justiça social. No Brasil, por exemplo, embora 99% da população tenha acesso à energia elétrica, as famílias conseguem apenas usar energia para conservar alimentos, a um custo desproporcional a sua renda. A inclusão de energia solar em todo o portfólio do Minha Casa Minha Vida, anunciada há pouco durante sua presidência no G20 e no seio das discussões do seu Grupo de Trabalho de Transição Energética, é um bom exemplo do modelo de mitigação equitativa que deve ser adotado pelo Brasil, e nortear sua NDC [7]. As pautas de inclusão social devem ter sua transversalidade em relação aos esforços de mitigação valorizados, incluindo ainda dentre outras acesso ao saneamento, recuperação de pastagens e agricultura familiar. A transição justa, conforme pontuou Barbosa do Nascimento do Centro de Justiça Climática, deve combinar objetivos de mitigação com a transição para um modelo econômico que reduza as desigualdades sociais do Brasil e crie oportunidades de trabalho, renda, e segurança para populações vulneráveis. Lara Stahlberg do Instituto Igarapé destacou que o Brasil está na sua última chance, o último bonde para um salto de desenvolvimento com a agenda da transformação ecológica, e que devemos fazer valer nossos compromissos externos internamente para não perdermos essa derradeira oportunidade. O Brasil precisa se apropriar dessa identidade como potência biodiversa, e acelerar a adoção de mecanismos inovadores de financiamento para pagamentos por serviços ambientais, como créditos de biodiversidade.
A principal contribuição que o Brasil pode fazer para cumprir seu “fair share” de mitigação, inequivocamente, é o combate ao desmatamento. Após um ano de queimadas descontroladas, ficou evidente a carência de capacidade do Estado brasileiro para fazer frente sozinho ao problema [8]. Mas aqui também cabe uma profunda discussão sobre equidade. Os povos indígenas e populações tradicionais desempenham um papel fundamental na conservação de florestas, reconhecidos por suas práticas de gestão sustentáveis [9], mas acessam apenas 1,4% do financiamento climático global. Nosso próprio Fundo Amazônia distribuiu menos de 3% de seus rendimentos a comunidades tradicionais.
O Brasil vem defendendo posições de negociação que inadvertidamente podem dificultar mais ainda o acesso de comunidades tradicionais ao financiamento climático para proteção de florestas, ao não endossar claramente o importante papel que projetos privados de REDD+ podem ter para contribuir de forma equitativa às suas metas climáticas e reparar sua dívida histórica com populações indígenas e demais povos tradicionais. A crescente tendência de captura de direitos de carbono pelos programas jurisdicionais estaduais, sem claras regras para acesso direto ao recurso, no território, pelas comunidades, tem gerado desconforto crescente na comunidade internacional e nos territórios coletivos. O Brasil deve propor mecanismos de conservação florestal que permitam uma transição para novos negócios verdes, de base comunitária, na floresta Amazônia, respeitando a autonomia das populações, promovendo seu protagonismo econômico, bem como o direito à consulta livre, prévia e informada, conforme dispõe a Convenção 169 da OIT. Os mecanismos de ajuste das NDCs – e correspondentes negociações do Artigo 6 – em relação à conservação florestal em terras públicas mas com usufruto de povos indígenas e populações extrativistas deve ser feito de forma a priorizar o acesso direto dessas comunidades aos recursos que reconheçam seu histórico esforço de proteção. O controle do financiamento climático para a conservação pelo Estado, juntamente com sua abordagem de cima para baixo na implementação, é excessivamente centrado em modelos restritivos de comando e controle ou multas e cercas no combate ao desmatamento. Essa visão negligencia o crescente consenso sobre a importância de abordagens de conservação baseadas em comunidades e na conservação produtiva. Essas estratégias já resultaram em avanços significativos em questões socioambientais, incluindo a criação das Reservas Extrativistas (RESEX), cujo acesso ao mercado voluntário de carbono tem sido restringido pelo Estado.
Adaptação climática
Historicamente, por ser um grande emissor, e por ter um clima ameno e amplos recursos naturais, o Brasil exerceu menos protagonismo nas discussões sobre adaptação e perda e danos que, por exemplo, o grupo dos LDCs. No entanto, à medida que a crise climática se acelera, a forma desigual como seus impactos são sentidos dentro do Brasil se torna evidente. De acordo com o Observatório das Metrópoles, as áreas mais afetadas por enchentes em Porto Alegre são áreas com população predominantemente parda e preta, e de baixa renda [10]. As secas na Amazônia têm deixado populações isoladas e em situação de extrema vulnerabilidade. Após exercer protagonismo com o Plano Nacional de Adaptação em 2016, poucos avanços significativos foram feitos internamente.
Barbosa, do Centro Brasileiro de Justiça Climática, destacou a transversalidade do tema no panorama social Brasileiro. A regularização fundiária, e acessos a serviços básicos, condiciona a capacidade de adaptação da população, especialmente grupos mais vulneráveis. As políticas de adaptação climática devem ser pensadas de forma abrangente, incluindo políticas habitacionais, de acesso a crédito, e até segurança no trabalho, para permitir que as comunidades se adaptem e consigam se reerguer após emergências climáticas. Propôs ainda a adoção de uma lente de adaptação antirracista, para fomentar uma visão interseccional e intersetorial da formulação de políticas públicas.
O Brasil tem aqui uma grande oportunidade para apresentar, em Belém, um resultado tangível em relação à Meta Global de Adaptação. Esse projeto faz parte do Programa de Trabalho EAU-Belém [11], e depende de avanços nas discussões sobre financiamento em Baku. Esse avanço é fundamental para destravar acesso ao financiamento climático para adaptação, criando diretrizes transparentes e quantificáveis para direcionar os desembolso de recursos. A UNDP estima que embora seja necessários US$ 387 bilhões por ano para financiar adaptação climática, os investimentos têm sido da ordem de US$ 21 bilhões apenas [12].
Se o Brasil espera liderar essa pauta e apresentar um grande avanço na COP de Belém, é imprescindível que dê o exemplo. Após os desastres no Rio Grande do Sul, a aprovação da lei 14.904/24 demonstra uma renovação de esforços para que se inicie um planejamento mais efetivo para a adaptação climática, por meio da elaboração de planos estaduais, distritais e municipais – além de um plano nacional geral [[1]3]. Até a COP de Belém, devemos caminhar significativamente na preparação desses planos, seguindo as diretrizes já acordadas nas negociações. A participação da sociedade civil, como a histórica participação das comunidades quilombolas, é fundamental para fomentar negociações justas.
O processo de construção desses planos, e as estratégias que dele derivarão, devem necessariamente estar atentos às inerentes desigualdades de raça, gênero, e condição social que condicionam a capacidade de adaptação de nossa população. Para tanto, conforme foi amplamente ressaltado no painel organizado pelo IRICE, é fundamental que se criem espaços reais de participação dessas populações na formulação dos planos. É fundamental combater a falta de representatividade sistêmica dessas populações na construção de políticas públicas para que se cheguem a soluções não somente equânimes, mas minimamente eficazes. Cabe ao Brasil adotar e escalar boas práticas na construção participativa e transparente dos planos de adaptação, para pressionar por compromissos tangíveis na COP Belém. Os exercícios de cartografia social sendo elaborados pelo Centro Brasileiro de Justiça Climática, por exemplo, podem ser instrumentos importantes na elaboração dos planos, e dar-lhes subsídios para adequação às GGA (Meta Global de Adaptação).
Financiamento climático e justiça climática
Não faltam dados sobre a absoluta insuficiência dos atuais fluxos de financiamento climático, tanto para mitigação como para adaptação. Em diversos espaços das negociações, há discussões sobre a necessidade de recursos tanto não reembolsáveis, como privado, e “blended finance” para diversas finalidades. Mas a discussão sobre valores, embora claramente central, não pode obscurecer uma discussão mais profunda sobre como esse financiamento é desembolsado.
Recentemente, a tentativa de captura do fundo global de adaptação pelo Banco Mundial, uma entidade do Norte Global, com governança do Norte Global, e altíssimas taxas de administração, deixou clara a importância de se estabelecer normas claras não apenas dos valores, mas dos mecanismos e fluxos para o financiamento climático. Conforme descrevemos acima, é fundamental que o financiamento climático chegue nas mãos de comunidades, tanto para mitigação como adaptação, e não se perca pelo caminho, como tanto acontece com o financiamento filantrópico.
A governança dos mecanismos de financiamento deve ser desenhada para devolver ao nível local a autonomia necessária para a tomada de decisão. Embora, claro, muitas questões climáticas requerem respostas sistêmicas e políticas públicas, há de haver o necessário equilibro entre mecanismos para que não se privilegie soluções “top down” em detrimento da autonomia das comunidades. Para tanto, é fundamental que se adotem estratégias intencionais para a promoção da participação de populações vulneráveis. A transparência real – que inclui a remoção de barreiras de acesso e capacitação – deve servir como fundamento no desenho e implementação dos mecanismos de financiamento. As soluções estratégicas de estado devem ser construída participativamente, e integradas com soluções locais, para formar redes benéficas de suporte mútuo que promovam não só o combate à crise climática mas também a justiça social.
Recomendações/propostas
Com base nas discussões do painel, fazemos as seguintes recomendações:
•Incluir uma visão de justiça climática na NDC do Brasil, privilegiando mecanismos de mitigação inclusivos, que facilitem o acesso direto de povos indígenas e comunidades tradicionais ao financiamento climático público e privado, além de dar destaque a soluções de transição energética e remoção inclusivas com foco na pobreza energética e agricultura familiar;
•Redobrar esforços na pauta de adaptação, demonstrando liderança interna na construção de planos de adaptação de qualidade técnica e viés antirracista, alinhados às metas em negociação, e elaborados de forma participativa e inclusiva e transversal a outras políticas sociais;
•Criar espaços reais de incidência política nas negociações internacionais para comunidades vulneráveis e tradicionalmente excluídas, para que possam informar constantemente o posicionamento do Brasil nas negociações, e garantir sua equidade e aplicabilidade. Sem representação não há justiça climática.
•
Assegurar que os mecanismos de financiamento aprovados não sejam regressivos, e que promovam a integração de linhas de acesso comunitárias e estratégicas/públicas, com transparência e monitoramento constante pela sociedade civil.
Conclusões
O Brasil enfrenta o desafio de alinhar sua responsabilidade histórica e atual com a realidade presente de mitigação e adaptação climática. Embora o país tenha uma contribuição menor às emissões históricas em comparação com potências desenvolvidas, sua posição entre os principais emissores atuais exige ações concretas e inovadoras. É imperativo que o Brasil adote um compromisso robusto e equilibrado de mitigação, que promova justiça climática e social, integrando-se às suas NDCs. Ações prioritárias incluem o combate ao desmatamento, especialmente na Amazônia, e a expansão de iniciativas de transição energética justa, como a inclusão de energia solar em programas habitacionais, medidas que refletem no combate ao racismo ambiental e promovem a justiça climática.
A adaptação ao impacto das mudanças climáticas deve ser igualmente priorizada, com a elaboração de planos integrados e participativos que considerem as desigualdades sociais, raciais e econômicas, buscando empoderar comunidades vulneráveis com o acesso direto a financiamentos climáticos adequados. O fortalecimento dos mecanismos de governança do financiamento climático, garantindo uma distribuição equitativa e transparente dos recursos, permitirá que o Brasil não apenas cumpra, mas lidere compromissos globais como uma potência biodiversa comprometida com a transformação ecológica e com a justiça socioambiental.
No âmbito internacional, o Brasil deve reivindicar posições negociadoras mais inclusivas para garantir o protagonismo de comunidades tradicionais e povos indígenas, ampliando seu acesso a recursos e influenciando as políticas climáticas globais. Por fim, as recomendações delineadas destacam um caminho claro para a criação de um futuro sustentável e mais equilibrado, delineando oportunidades para que o Brasil otimize seu papel na cena climática internacional.
Referências
[1]
Ruddiman, William F. “The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago.” Climatic change 61.3 (2003): 261-293.
[2]
Mora, C., Spirandelli, D., Franklin, E. C., Lynham, J., Kantar, M. B., Miles, W., … & Hunter, C. L. (2018). Broad threat to humanity from cumulative climate hazards intensified by greenhouse gas emissions. Nature climate change, 8(12), 1062-1071.
[3]
United Nations Environment Programme (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922.
[4]
Climate Watch. 2024. Washington, D.C.: World Resources Institute. Available online at: www.climatewatchdata.org.
[5]
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/08/Executive-Summary-Equity-and-Fair-Shares-Discussion-Paper_CAN-CERP-2.pdf
[6] https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2024/08/NDC_2024-v2.pdf
[7]
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202407/presidente-institui-programa-que-leva-energia-solar-ao-minha-casa-minha-vida
[8]
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/meio-ambiente/noticia/2024-10/brazil-has-2238-million-hectares-affected-fire-over-nine-months
[9]
Fourmile, H. et al. Indigenous peoples, the conservation of traditional ecological knowledge, and global governance. In: Global ethics and environment. Routledge, 2002. p. 215-246.
[10]
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/boletins/populacao-pobre-e-negra-e-mais-afetada-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/
[11]
https://www.wribrasil.org.br/noticias/entenda-meta-global-de-adaptacao-do-acordo-de-paris
[12] https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2023
[13] https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2024-06-27;14904
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional