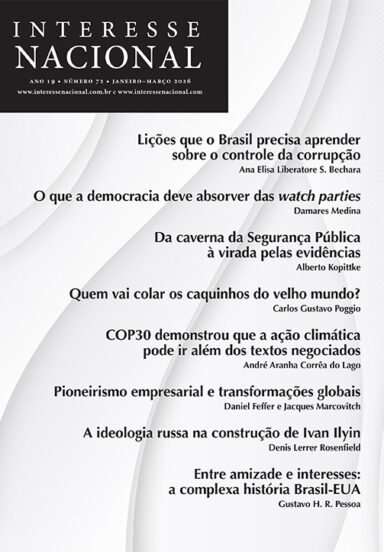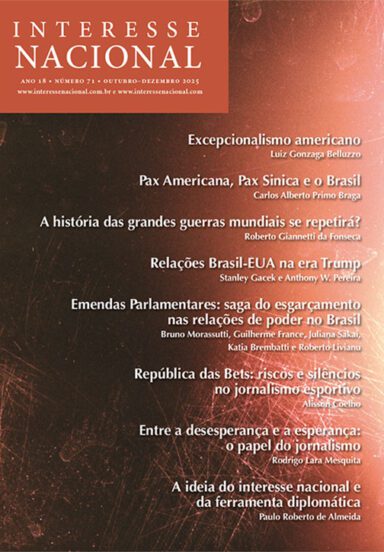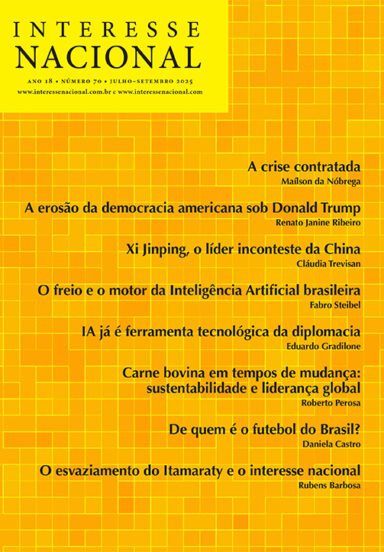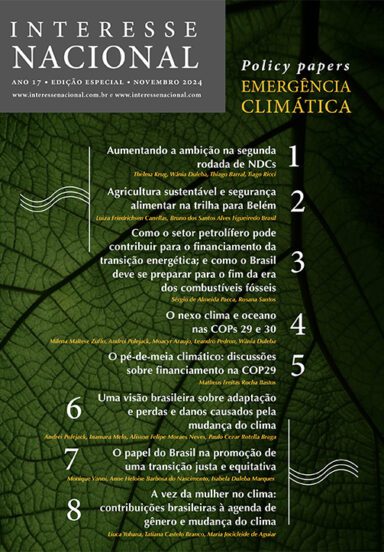Museu, Assunto Sério Demais para a Cultura
Os museus são uma relevante conquista cultural das cidades onde se situam (ou de seus países, se assunto de Estado). Ou não?
Para ver como algumas cidades – e, pelo menos, um Estado, um poder central, um país – tratam seus museus, proponho um rápido giro, começando pelo Louvre. Não será abusivo e descabido fazer logo de saída uma comparação como mais notável deles todos, o mais emblemático, o mais visitado do mundo, que move o turismo em Paris, personagem de filmes americanos de grande bilheteria? Não, não será: a referência, o padrão, deve ser sempre o mais alto. Oito mi- lhões e meio de visitantes é um número confiável a indicar o público que passa por suas galerias ao ano. Paris registra 2,2 milhões de habitantes em 2013; quatro vezes mais passam pelas bilheterias do Louvre todo ano. Pesquisas indicam que perto da metade dos habitantes de Paris nunca pôs os pés no museu: o Louvre é um museu para estran- geiros e sabe disso. Mas, essa é outra história.
De seu orçamento anual, em dados de 2011, 27% vêm da bilheteria, 11%, do mecenato e pa- trocínio, 7%, de locações e vendas diversas, 5%, de outras fontes e 50% …, do Estado. Em 2006, a participação do Estado nas contas do Louvre era de 58,3% e, em cinco anos, caiu 8,3% – um escândalo na França. Já foi ainda maior no passado e diminui a cada novo ano, também na França, “Es- tado cultural” por excelência e, mais do que qual- quer outro, onde a cultura vem sendo abandonada pelo Estado (isso é mau ou bom?). Mas, o Estado ainda paga 50% das contas do Louvre. A reforma impulsionada por François Mitterrand, terminada em 19891 e que dotou o Louvre de sua então com- batida e hoje amada pirâmide de vidro desenhada por I.M. Pei, deu ao museu, entre outras coisas, um amplo shopping mall subterrâneo, de onde ele extrai parte substancial de seus recursos. Museus são máquinas de perder dinheiro. Quanto mais vi- sitantes tiver, maior será sua despesa, que o diga o Centro Pompidou, projetado para receber um número de visitantes por ano que foi, em pouco tempo, multiplicado por cinco em relação à pre- visão inicial, levando-o a renovar-se bem antes do previsto. Para fazer frente a essa equação nega- tiva, o Louvre, subvencionado pelo Estado, pôde contar com o recurso de enterrar-se e expandir-se. Um museu como o Masp, em São Paulo, ilhado entre três vias públicas, sem poder crescer para cima por ser tombado e, portanto, “imexível” (tal como o condena a ser um pensamento patrimonia- lista que faz a casca prevalecer sobre o conteúdo), e tendo crescido para baixo o que podia, não tem mais como adaptar-se aos novos tempos. O Lou- vre pode, o Louvre é amplo, o Louvre foi pensado para enfrentar o futuro, o Louvre teve um plane-
jamento de prazos médio e longo – e o Estado central ainda o mantém em 50% de suas despesas. Passemos do velho mundo ao novo, atraves- sando o mare nostrum que é o Atlântico, e veja- mos o que acontece com o Metropolitan (Met), em Nova York. Se cabe analisar o Louvre em sua condição de primeiro museu do mundo em interesse do público, e como exemplo de organi- zação e expoente do colecionismo público – por discutíveis que possam ser as vias pelas quais formou sua coleção2 –, cabe também mencionar o Met, dadas algumas (poucas) semelhanças com Masp.3 Entre elas, o fato de que, sendo uma coleção e uma entidade privadas, a propriedade do edifício é da cidade de Nova York, que ainda assegura ao museu o custeio da terceira parte de sua manutenção e segurança. No total, esse valor equivale a 13% do orçamento anual do Met. O edifício do Masp é, do mesmo modo, proprieda- de da cidade de São Paulo, que repassa ao museu cerca de 1/6 de suas despesas anuais de manuten- ção, a metade, proporcionalmente, do que recebe Met. Isso quando o prefeito ou o secretário de cultura de São Paulo decide fazer o repasse (al- guns decidiram não fazê-lo e a situação ficou por isso mesmo). O restante do orçamento necessário à operação anual do Met, incluindo exposições, é levantado por seus patrons. Nem por isso a vida do Met é fácil: em 2009, o museu teve um déficit de US$ 8,4 milhões 4 – e o prejuízo ficou “ape- nas” nisso, porque seu board economizou cerca de US$ 20 milhões adicionais ao demitir 14% do staff, o que representa um monumental corte num setor da cultura que não costuma ter gordura funcional, significando que o museu passou a ter um déficit também de serviços prestados e de pesquisa, ao lado da perda financeira. A so- ciedade civil, porém, aquela presente no museu na condição de membros do board, e a externa ao museu, na condição de simples amadores e pequenos apoiadores da arte, equilibraram a situ- ação – algo outra vez impensável no Brasil.
É sugestivo examinar o quadro de outro mu- seu em Nova York, o MoMA. A cidade de Nova York participou com quase 30% dos recursos necessários à expressiva ampliação pela qual passou o museu em 2002. À parte um caso as- sim excepcional, o museu não costuma depender de apoios governamentais e, sem colocar todos os ovos no mesmo cesto, divide seu orçamento entre cerca de meia dúzia de distintas fontes de renda, nenhuma das quais decisiva para sua ma- nutenção. Mais do que isso, o MoMA é gerencia- do como uma grande empresa, uma corporação. Análises econômicas e financeiras rotineiras do museu, dentro do quadro de sociedade aberta que caracteriza os EUA, mostram que seu board tinha, pouco antes da crise mundial de 2008, ra- zoáveis investimentos em equities,pelo mesmo board liquidados para dar ao museu uma mar- gem de manobra em dinheiro vivo (cash). A renovação do museu custou cerca de US$ 860 milhões, dos quais US$ 77 milhões vieram de um único patron, David Rockefeller (que, em 2005, doou mais US$ 100 milhões ao fundo de endowment do museu). Apesar da pouca credibi- lidade que passaram a ter as principais agências de avaliação após a crise de 2008, a Moody’s atribuía ao MoMA a nota Aa2, que é, sabem os economistas, melhor que a de muitos países ricos (expressão mais clara do que “desenvolvidos”) e melhor, por conseguinte, que a do Brasil. Essa nota indicava ser seguro emprestar ou doar di- nheiro ao MoMA: os recursos serão bem aplica- dos. Não bastasse isso, outra agência, a também hoje combalida Standard & Poor’s (que não se perca pelo nome), aumentava a nota de longo prazo do museu depois de avaliar o comporta- mento excepcional de seus trustees como fund raisers e gestores: é que, findo os extensos traba- lhos de ampliação do museu, 10% dos US$ 650 milhões levantados para a operação foram para o endowment, o dote de manutenção do museu. Ampliar e crescer, crescer enquanto se amplia: não é uma coisa ou outra, são as duas ao mes- mo tempo. Tudo isso faz do MoMA um museu rico: em 2012, gastou US$ 32 milhões na compra de arte, paga bem sua equipe e seu diretor, que, em 2009, ganhou US$ 1,6 milhão, vive de gra- ça num apartamento avaliado em US$ 6 milhões que é propriedade do museu e fica no próprio prédio renovado. Dessa forma, entende-se por- que o MoMA é um farol em pleno século XXI obscuro. No Brasil, os clubes de futebol estão sendo forçados a se transformar em empresas. Como se poderia criar as condições para que os museus seguissem o mesmo caminho, quando possível? Ou nenhum pode?
Um pequeno museu, numa pequena cidade – ou nem tanto
E, agora, um museu “mais modesto”, do porte aproximado do Masp, a permitir uma com- paração um pouco mais apropriada: o Städel Museum, em Frankfurt, fundado em 18155 por um banqueiro e comerciante, que legou sua resi- dência, sua coleção de arte e sua fortuna para a constituição de um instituto e uma fundação que portassem seu nome e fossem “o maior dom que se pudesse fazer a Frankfurt”. Está desde 1878 no local que hoje ocupa: a museum mile, às margens do rio Main, no coração da cidade. Com uma es- cola de arte dentro da propriedade6, passou por numerosas ampliações e modernizações, a últi- ma das quais, terminada em 2012, foi a constru- ção de uma área subterrânea de mais de 3 mil m² para a seção de arte contemporânea. Sua coleção tem cerca de 2,6 mil pinturas – e são obras de primeira qualidade, como um fabuloso Rembrandt, além de peças importantes da pré-Renascença e do expressionismo alemão moderno – e mais de 100 mil obras em papel. Com um belo restauran- te e uma renovação arquitetural que combina o velho com o novo, o Städel Museum, por desejo e determinação de seu fundador, é dirigido por cinco administradores – seus trustees –, que in- dicam o diretor e seus dois vices; e, desde 2007, tem um comitê de 30 pessoas escolhidas entre expoentes do mundo da cultura, dos negócios e da sociedade local, a servir como conselheiros e apoiadores do museu. O Städel recebe, pelos últimos dados, um público de 450 mil visitantes por ano (o Masp, 850 mil).7
Significativo, pelo modo como a cidade aco- lhe e ampara o Städel, é o episódio dessa recente e exemplar ampliação subterrânea. Dos 52 mi- lhões de euros necessários, a metade veio de do- ações privadas – e os 26 milhões de euros com- plementares, da cidade de Frankfurt e do estado de Hesse, onde se insere administrativamente a cidade.8 A captação foi considerada um feito por ter-se iniciado logo antes da ruptura do sistema bancário mundial, em 2008, e continuado com sucesso ao longo dos subsequentes anos de crise até o término das obras, em 2012. Como se diz em Frankfurt, um número suficiente de “bons ci- dadãos” acorreram para ajudar a fechar a conta. A causa era boa, o museu tinha sólida estrutura, sua governança era respeitada e o comandante da captação, seu atual diretor, é um especialista não apenas em arte, mas em motivar doadores. Ele é também o diretor de duas outras instituições de arte de Frankfurt e trabalhou no Guggenheim, de Nova York, onde aprendeu a convencer as pes- soas a doarem generosamente, como se diz nos EUA, e a compartilharem com a sociedade a arte que possuíam. “Nunca se deve tomar um não como definitivo. Um não significa apenas que o pedido foi mal formulado.” Esse é seu lema.
Museu de Estado e o MoMA Corp
Passou-se nestes poucos parágrafos por três cidades, três países e quatro museus, três dos quais são muito maiores do que o maior e mais importante museu do Brasil, o Masp, ocupando o quarto – o Städel Museum – uma importân- cia simbólica próxima daquela do Masp. Um desses quatro, o Metropolitan, usa um edifício pertencente à cidade, como o Masp; dois outros, MoMA e Städel, são em tudo privados (como a coleção do Met e a do Masp) e um, o MoMA, está muito bem cotado nas agências de avaliação econômica. É possível dizer que o MoMA é uma corporação. Dos quatro, apenas um tem por trás, a ampará-lo diretamente, o Estado, i.e., o poder central: o Louvre.9 Não há Estado por trás da cul- tura nos EUA e na Alemanha, sendo neste país cultura uma questão da cidade e, complementar- mente, dos estados, que as abrigam administrati- vamente (os Länder). O mesmo ocorre nos EUA, o que faz a diferença. A cidade é a única realida- de política e social concreta do ser humano: o es- tado intermediário entre o poder local e o central, assim como a nação, são ficções. Cômodas ou incômodas, mas ficções. A verdade está na cida- de; Alemanha e EUA sabem disso. Em termos de cultura e de museus isso é importante porque um Estado não tem e não pode sentir paixão pela cultura – salvo um, quem sabe, o francês. As pes- soas sentem paixão pela cultura e pela arte, como em Frankfurt e em Nova York. As cidades as sentem menos, mas pelo menos sentem pela arte um orgulho coletivo.
Todos os quatro museus passaram e continu- am passando por fortes expansões arquiteturais: o Louvre, com sua pirâmide e seu grande com- plexo subterrâneo; o MoMA, pelo contrário (e como é próprio de Nova York), com sua nova alta torre que aponta para os céus (sem contar seu braço em Long Island, o PS1); o Met, com suas ampliações constantes para os lados; o Städel, espalhando-se magnificamente sob seu próprio jardim interior. O Masp é arquitetural- mente o mesmo de quando foi inaugurado na Paulista, o que ocorre também com o MAM, no Rio de Janeiro; o MAM, em São Paulo, continua sob uma marquise que não o previa (museus no Brasil ocupam prédios que não foram pensados para eles, como o MAC-USP, agora localizado ex officio no edifício de uma repartição pública (ele, um museu dito de arte contemporânea, deve contentar-se com um prédio modernista dese- nhado para outra coisa). Com exceção do museu de Niterói, bela escultura de discutível eficácia museal, e do novo MAR (de fato, uma kunsthalle, espaço de exposição sem acervo), a única inova- ção arquitetônica significativa nas últimas déca- das foi a construção do museu da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre.10 Mas, os principais museus do país, incluindo o de Belas Artes, no Rio de Janeiro, estão há tempos e tempos como sempre estiveram.
No caso daqueles quatro museus, três cidades e um Estado nacional, o que se vê são exem- plos de governança e gestão privadas e públicas bem planejadas e executadas – uma delas, a do Louvre, remontando a séculos de experiência – e exemplos de relação azeitada com a sociedade ao redor do museu, que devolve sua paixão e apoio participando da aventura e dos destinos da arte ali exibida. E isso, ao lado de um poder público local que reconhece o valor da arte e do museu e não lhes nega o devido apoio. O que se vê, ainda, nos quatro museus, são instituições com coleções em desenvolvimento, que se renovam e fortalecem – condição essencial para um mu- seu, não só porque a quantidade de arte relevan- te aumenta sempre e tem de estar presente nos museus11, como porque aumenta a demanda do público (se não por outro motivo, pelo simples aumento demográfico e pela facilitação dos des- locamentos nacionais e internacionais).
O patrimônio congelado (que é como se prefere o patrimônio no Brasil)
Esse é um quadro bem diferente do que se vê no Brasil, onde o Estado é indiferente à sorte da cultura e da arte12, e a sociedade civil, como a ini- ciativa privada, não o é muito menos. Nos EUA, como na Alemanha, as pessoas sabem que são as responsáveis em primeira e última instâncias pelos destinos da cultura e da arte. Na França, essa missão cabe ao Estado (quer dizer, a todos) e, por sorte, o Estado francês é um estado culto, que encontra na cultura sua identidade primeira, central e última. Como contraponto à indiferen- ça do Estado, no Brasil, a sociedade civil – em todo caso até bem recentemente e na maior parte dos casos – tem, com a cultura e a arte, com- portamento amadorístico, personalista e patri- monialista. Mesmo quando a cultura e a arte que gerenciam não lhes pertencem, tratam-na como se fosse questão pessoal. O Brasil foi e continua sendo um país de cultura patrimonialista, pater- nalista e, por conseguinte, autoritária – ou auto- ritária e, portanto, paternalista e patrimonialista. O patrimonialismo traduz-se numa política que consiste em manter as coisas como estão e como patrimônio, quer dizer, retiradas da circulação. No patrimonialismo, cultura e arte não circulam, de fato, não são estimuladas a circular. O pater- nalismo e o patrimonialismo se reforçam e se explicam mutuamente: “dar cultura ao povo” é uma de suas máximas; dá-la grátis é outra (num país e numa época em que nada mais é grátis); dar quando se tem vontade e se sente uma in- clinação para fazê-lo, e não por ser estratégico e uma questão de direitos, uma terceira. Quanto ao autoritarismo, não é preciso dizer nada: é a recorrente terceira face desse Janus poderoso que segura o país dentro de seus limites e sem condi- ções de expandir-se.
Indiferença e descaso para com os museus por parte do poder público13; ausência de um compromisso com a arte e a cultura mais claro e mais profundo por parte da sociedade civil; alhe- amento da iniciativa privada diante de sua apre- goada “função social”, hoje concentrada superfi- cialmente em uma ação educativa suplementar, que, sem cultura e arte, não chegará a lugar al- gum. É interessante observar que, não raro, as empresas multinacionais instaladas no Brasil não se comportam diante da cultura e da arte do mes- mo modo como o fazem lá fora suas matrizes, que mantêm, muitas, coleções valiosas de arte e apoiam a cultura. Lá, a questão da cultura parece central, um modo de manifestar o compromis- so com a sociedade; aqui, as mesmas empresas, quando solicitadas pela arte e pela cultura, res- pondem que seu negócio é fabricar carros ou ca- minhões ou movimentar contas bancárias, e não produzir cultura. Dois pesos e duas medidas.
Uma geração (de incentivos) depois
A propósito da iniciativa privada, um tema recorrente são as leis de incentivo. Quando foram propostas, ao final da ditadura militar, ti- nham três objetivos primordiais: libertar a sociedade da tutela e da censura do Estado; tirar a cul- tura do âmbito dos contingenciamentos eternos que reduzem, por vezes, as ações dos ministérios, o da Cultura entre eles, em mais de 90% ao ano; e despertar a sociedade civil e a iniciativa priva- da para seu papel no apoio à cultura. Os dois pri- meiros foram relativamente alcançados, embora nos últimos dez anos se veja o Estado central na tentativa de cercear o recurso à Lei Rouanet tan- to quanto possível. O terceiro, ainda não: uma geração inteira depois, e várias gestões tendo-se substituído à frente das principais empresas do país, elas ainda fundamentalmente “apoiam” a cultura apenas com os recursos incentivados, que de todo modo seriam devidos ao Estado. E, como com frequência são inúmeros os artifícios legais para declarar a inexistência de lucros sobre os quais calcular incentivos, empresas em expansão crescente também com frequência não têm o que destinar para a cultura e a arte…
A Lei Rouanet teve um efeito perverso ao permitir que as corporações investissem em seus próprios institutos, então especialmente criados para isso, os recursos destinados à cultura. Muitos deles cumprem função importante: a circulação da cultura e da arte aumentou, os produtores tiveram mais condições de trabalho, a pesquisa e a infor- mação sobre o campo cultural aumentou e o pú- blico foi beneficiado com mais escolhas. Mas, os museus, em particular, com suas coleções estáveis, perderam da noite para o dia um apoio essencial e, hoje, são apenas outros tantos na fila comum à cata de patrocínio. Um museu com uma coleção que cobre séculos tem o mesmo valor, na hora de captar patrocínio, que um fato cultural episódico e transitório a esgotar-se em si mesmo ao cabo de uma semana e que nada deixa de herança além de um vago “valor imaterial14. O nome dessa equipa- ração por baixo pode ser “democracia cultural”. Se o for, será necessário dela extrair todas as conse- quências e alterar radicalmente o cenário no qual se compreendem a arte e a cultura, um cenário de fato em quase tudo formatado ainda alla século XIX. Mas, o fato permanece: existem ou não va- lores perenes, valores mais relevantes que outros e que requerem tratamento diferenciado? Se não, iremos por um caminho. Se sim, por outro.
Já fui defensor da presença do Estado na dinâmica cultural como incentivador, coorde- nador e cooperador. Já defendi, a seu tempo, a criação do Ministério da Cultura. Hoje, para di- zer o mínimo, a presença do Estado na cultura parece simplesmente nefasta. O Estado não só não colabora como atrapalha ao alimentar o ci- poal burocrático que tudo oblitera, inclusive a cultura, e ao concretizar a máxima celebrada por Chacrinha quando dizia em alto e bom som ter vindo para confundir, não para esclarecer. Nesse sentido, pode-se entender a recente declaração de um agente estatal para a cultura defendendo a ideia de que o país precisa de mais museus. Não precisa. Precisa de bons museus, não de mais museus a dividir entre si as migalhas de uma re- feição mais com a cara de um fast food que de um banquete. Um museu se cria quando surgem as condições para tanto, e essas condições vêm habitualmente de baixo para cima, não de cima para baixo, por decreto, incluindo a necessidade (o valor, palavra de trânsito difícil hoje), a opor- tunidade e a viabilidade, condições que não se reúnem por acaso. Chateaubriand e Ciccilo Ma- tarazzo viram-se no meio delas e as conduziram. A Fundação Iberê Camargo seguiu pela mesma trilha. O mais comum, porém, é a existência de museus em busca de coleções. A Espanha, nos momentos de euforia, após a entrada na União Europeia, criou por decreto dezenas de museus, hoje em decadência. Museus não se definem por políticas culturais; museus definem políticas cul- turais. A política cultural hoje praticada no país quer descentralizar antes de ter concentrado, an- tes de ter obtido sucesso na concentração. Des- centralização e desconcentração soam como pa- lavras democráticas quando são apenas enganosas, como o demonstram os casos de descentra- lização dos polos (os de produção cinematográ- fica, por exemplo) que repetidamente terminam em fracassos. Aqui, outra vez, a cidade surge em seu papel central na dinâmica cultural: a cidade com meios para tanto pode decidir concentrar em si mesma alguma ação cultural. O Estado cen- tral não tem como decidir, lá de cima, de longe, descentralizar a cultura entre diferentes cidades e regiões. Se tivesse os meios para fazê-lo – como teve a seu tempo a França, ao estimular que tal cidade fosse marcada pelo teatro, tal outra pela dança, tal outra pelo cinema – tudo bem. Como não tem, irá novamente pulverizar a escassez em vez de fortalecer o que existe e mal sobrevive. É a maldição da gestão cultural no país: esquecer o que existe, criar coisas novas. Assim aconteceu com o advento das leis de incentivo: criaram-se dezenas de institutos culturais e centros culturais ao lado dos existentes. E o fez não só o setor pri- vado, que hoje se prefere demonizar, mas tam- bém o setor público ou que é identificado e prefe- re identificar-se com o público, como o setor dos bancos da nação.
Novos formatos, a cultura que não comove e a economia que move
Alguns estados do país reconheceram que o Estado – o poder público – é ineficaz na gestão da cultura e, mesmo, um obstáculo maior ao desenvolvimento da dinâmica cultural (como de resto em tantos outros setores) e aceitaram entregar a gestão de bens culturais a organi- zações sociais (OS) sem fins lucrativos – mais ágeis, menos submissas (em tese) às vontades políticas, mais comprometidas com a vontade de arte e com a vontade de cultura, um apetite que o Estado não tem. A Pinacoteca de São Paulo é um exemplo de sucesso da nova opção, a inco- modar os dinossauros ideológicos que exigem o controle da cultura diretamente pelo poder pú- blico em todas suas etapas e aspectos. Mesmo as OS, porém, não estão livres dos que as que- rem usar como instrumento de ascensão social e política e que não têm condições econômicas ou outras para, de fato, atuar pela cultura; mesmo elas não são imunes a golpes internos – como de resto nenhum agrupamento humano. Embo- ra mais estimulantes do que o formato anterior de presença direta do Estado, o fato é que nem as OS substituem vantajosamente, primeiro, as fundações com recursos próprios para a gestão do que devem gerir; e, segundo, patrons em reais condições de manter uma instituição. O Estado deveria ser o maior dos patrons: quase sempre é o maior dos padrastos.
No início deste texto vem escrito que o museu é um assunto sério demais para a cultura. O sen- tido completo dessa frase é o seguinte: o museu é um assunto sério demais para ficar apenas nas mãos das secretarias de Cultura e ministérios da Cultura, assim como a guerra é um assunto sério demais para ficar nas mãos dos generais. Museus são, hoje, e por um período de tempo que já dura mais do que talvez se pudesse prever, um privi- legiado instrumento de ação econômica, além das outras ações que habitualmente lhe cabem. Os exemplos são inúmeros, como o demonstram o Guggenheim, de Bilbao; o novíssimo Louvre, em Lens, dentro da própria França, e o Louvre espetacular, em Abu Dhabi; a Tate Modern, em Londres; o Louisiana, na Dinamarca; o Museu de Arte Contemporânea, de Tóquio; o Hara Museum, em Shibukawa, também no Japão – todos luga- res aonde se vai para ver um museu. É verda- de, não se vai a Lens ou a Shibukawa para ver as coleções dos respectivos museus: vai-se para ver, e talvez para ver primordialmente, a arqui- tetura desses novos museus: “já que estamos ali, vejamos também a coleção”… Tudo bem. Mas, as coleções importam e muito. Existem estudos precisos mostrando quanto dinheiro deixa em Nova York – em diárias de hotel, taxis, passagens aéreas, restaurantes, teatros – cada turista que ali vai para ver um museu ou museus. Idem em Barcelona, por motivo de Gaudi, ou em Roma, pela Capela Sistina (e o museu do Vaticano é o mais caro do mundo…). Museu hoje é assunto da economia, do turismo – e também da cultura e da educação. Um (bom) museu deveria justificar-se por si mesmo. No entanto, o argumento da cul- tura como um valor intrínseco já não comove os políticos, o Estado, os empresários e a própria sociedade civil. O museu, hoje, como a cultura, deve ter um valor extrínseco, tem de servir para alguma coisa. Hoje, o museu não serve mais à glória da nação: serve porque puxa dinheiro e gera dinheiro. Deveria, portanto, ser assunto da economia, do turismo, das indústrias criativas. A cultura deveria ser o eixo central de todas as po- líticas públicas: saúde é uma questão de cultura, extração mineral é uma questão de cultura; um empreendimento industrial, com seu impacto, é uma questão de cultura; educação é uma questão de cultura; transporte público é uma questão de cultura (um ônibus tem de encostar rente ao meio fio para facilitar a entrada dos passageiros, e não parar no meio da rua para que as pessoas o es- calem, se puderem; e não deve arrancar jogando todos ao chão: é uma questão de cultura). Se é assim, toda e qualquer ação de um governo deve- ria passar pelo crivo do representante da cultura. Isso é sonho. Cultura não conta para nada num ministério ou secretariado. Então, pelo menos, que a cultura seja diretamente um tema de eco- nomia: sua sorte só pode ser melhor.
É verdade que talvez nem assim a cultura possa se safar: há anos uma pesquisa oficial da secretaria de Turismo mostra que o Masp é o primeiro motivo para um turista ir a São Paulo, mais que a Fórmula 1, mais que a Fashion Week, mais que o Carnaval, mais que os restaurantes e as lojas de luxo. Mas, isso não comove nem move o governo da cidade e o do estado. Aquele ainda concede ao Masp (quando decide fazê-lo, já observei) uma contribuição equivalente a dois meses de manutenção simples do museu, pou- co mais de 10% de seu orçamento primário. O Estado, com um olho na coleção do museu (que iria para a Pinacoteca na hipótese de falência ou encerramento das atividades da sociedade que a mantém), nem isso.
Os museus dependem tradicionalmente do tripé poder público–setor privado-sociedade civil. A não ser em raros momentos, esse tripé não existe no Brasil como plataforma para a cultura. A sociedade civil começa a organizar-se, do que é exemplo o recente episódio de reconfiguração da Bienal de São Paulo. Talvez a sociedade civil e a economia no Brasil percebam a tempo a questão dos museus, porta de entrada para o século XXI – ao Brasil só cabe pensar agora no século XXII – tanto quanto a questão dos trens-bala. O historia- dor francês Michelet anotou que cada época sonha com a seguinte. Verdade. Mas, a atual, mostram os museus, sonha mais com as épocas passadas e com a presente. Haverá razões para isso. É o caso, seja como for, de aproveitar a tendência.
E no futuro, aqui, em vez do museu, o entreposto
A ciência se caracteriza por sua capacidade de fazer previsões mesmo se e, especialmente, quando não forem empiricamente comprováveis no momento em que as faz: um novo elemento químico deve estar entre as posições X e Y na tabela de Mendeleiev, um novo planeta deve encontrar-se no quadrante Z do universo, o tempo transcorre no espaço de modo distinto do que o faz na Ter- ra. Se a museologia aspira a ser ciência, ela deve- ria poder fazer previsões. Uma delas está à vista: por toda parte – por toda parte quer dizer: Europa, Ásia, EUA – surgem “empresas de arte” associadas a grupos de mídia e a outros braços econômicos15, que, sem nem sempre terem coleções próprias, têm, no entanto, todas as condições econômicas, sociais e políticas para “gerir” coleções de museus importantes e oferecer para outros museus no resto do mundo (contra, claro, um fee nem sempre módico), inclusive nos países subdesenvolvidos– e neles principalmente –, exposições prontas, armadas com obras dos museus assim “geridos” (embora nem sempre essas obras sejam de absolu- ta primeira qualidade). Museus subdesenvolvidos sem plataformas minimamente sólidas não têm a menor condição de obter diretamente, exposições equivalentes ou melhores. O quadro é tal que, hoje, um museu no Brasil pode definir “sua” programa- ção ao longo de todo um ano – ou dois ou três ou quatro – sem mover um único dedo – isto é, sem orientar sua escolha, sem definir seu campo de atu- ação, sem requerer um curador ou grupo de cura- dores: basta um balcão onde receber as propostas, na maioria sem quaisquer propostas científicas ou justificativas estéticas evidentes, meros espetá- culos de divertimento16. Se esse museu-cliente tiver coleção própria, quase sempre uma coleção morta porque sem condições de desenvolver-se, sua tarefa será apenas a de cuidar dela, se puder fazê-lo. Ou, claro, entregá-la para a gestão de um “escritório de arte”, uma produtora de arte, como se diz hoje. Os museus daqui logo serão entrepostos, relais como no tempo das diligên- cias: pontos de passagem, não núcleos gerado- res de informação. E, sem capacidade própria de investimento em tecnologia, perderão o bon- de dos novos instrumentos que se imporão ao campo da apreciação da arte17. Os museus se transformarão, no Terceiro Mundo18, em pe- ças… de museu. A cultura não se dá conta disso. Decididamente, museu é assunto sério demais para a cultura.
- Mesmo ano da queda do infame Muro de Berlim. A cultura sobe, a opressão cai: máxima a observar e perseguir sempre.
- Remember Walter Benjamin: todo documento de cultura é um documento de barbárie.
- E se aqui falo recorrentemente do Masp é não só porque o Masp é o mais visitado museu do país e da América Latina, todos os gêneros confundidos (sendo talvez seu concorrente mais forte nesse aspecto o Museu Nacional de Antropologia de México DF), como por conhecêlo de perto, após sete anos como responsável por sua programação artística. Nesse sentido, o Masp é, para mim, “de casa” e talvez se incomode menos com o que possa aqui ser dito.
- O déficit do Met corresponde a uma vez e meia o orçamento anual do Masp…
- O Masp é de 1947.
- Hoje administrada pela cidade de Frankfurt, que paga um aluguel ao museu pelo uso do espaço.
- Frankfurt tem uma população de 688 mil habitantes. A cidade se apresenta como a “mais internacional da Alemanha, maior centro financeiro do continente, cidade de Goethe e da Escola de Frankfurt”. Quer dizer, quando se mostra ao mundo, Frankfurt faz questão de lembrar que é a cidade de um enorme escritor e de uma escola de pensamento conhecida por seu radicalismo crítico. É de se tirar o chapéu. Entre as imagens que escolhe para se mostrar em seu site está a do renovado Städel, um museu privado, mas com o qual colabora e que considera seu.
- A mais recente reforma do Masp, entre 1997 e 2002, custou R$20 milhões, dos quais o poder público entrou com R$ 1 milhão e o setor privado e a sociedade civil, com os outros R$ 19 milhões. Se esses dados mostram que, ocasionalmente, a sociedade “comparece”, eles deixam em evidência a distância que o poder público mantém de um museu que deveria ocupar lugar central na política pública local.
- A França cria agora mais uma etiqueta: Musées deFrance, assim como há os fromages de France, os vins de France… É um pouco divertido, mas um bom sinal: os museus são tão importantes quanto queijos & vinhos. Está bem assim.
- Inaugurado em 2008 e assinado, fato raro no Brasil das corporações de ofício, por um arquiteto português, Álvaro Siza. A menos que se pare de dizer que “tudo é bom” e que tudo é “musealizável” (e que tudo e todas as cidades têm de ter um museu) e se exerça o juízo crítico que descarta e inclui. Exercê-lo outra vez será uma inevitabilidade, agora por razões estatísticas.
- A menos que seja para controlá-las e pô-las a seu serviço.
- Que os museus não se sintam especialmente desfavorecidos: o mesmo descaso e indiferença são votados pelo poder público a todos os cidadãos, por igual.
- Se isto não significasse sucumbir à “fúria legislativa” que há séculos assola o Brasil, país do reconhecimento de firma e de leis que não “pegam”, seria o caso de baixar uma lei obrigando as empresas e as corporações com instituto de cultura próprio a apoiar, com uma porcentagem X de seu orçamento incentivado para a cultura, uma instituição autônoma e independente, como, de resto, obrigam-se as emissoras de TV a financiar a produção de conteúdos fora de seus domínios. Mas, TV é assunto sério e museus não.
- Ou fundações de arte com coleções, mas também vinculadas a poderosos grupos econômicos dos quais provêm e que se associam a poderoso grupos econômicos em outros países – e, portanto, em condições de pagar os elevadíssimos fees por empréstimo de obra que elas mesmas estipularam com a finalidade clara de controlar o mercado.É o dumping na área das exposições – que não parece provocar qualquer clamor.
- Como diz a publicidade de uma exposição agora em Belo Horizonte, vá vê-la porque lá tem “diversão para toda a família” – como num cinema ou num parque de diversão. Só que o museu não é um parque de diversão. Ou é? Ou terá de ser?
- Peter Greenaway já faz cópias digitais em tamanho natural de grandes (estética e fisicamente) obras do passado, como as Bodas de Canaã, de Veronese, para mostrá-las ali, onde não poderiam ser vistas de outro modo. O custo do processo é uma pequena fortuna para um museu do Brasil.
- O Segundo Mundo sumiu, mas o Terceiro continua existindo, apesar da língua orwelliana que prefere o mais politicamente correto “emergente”.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional