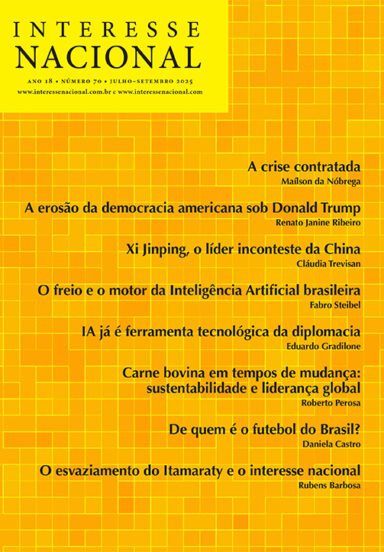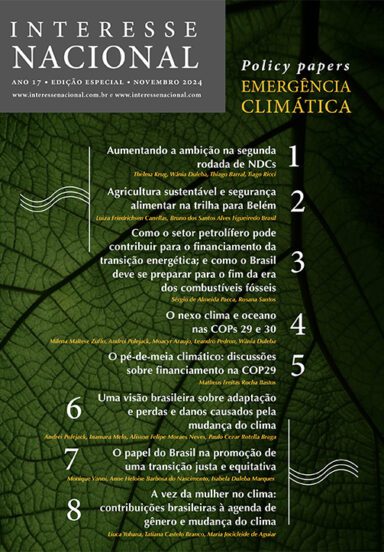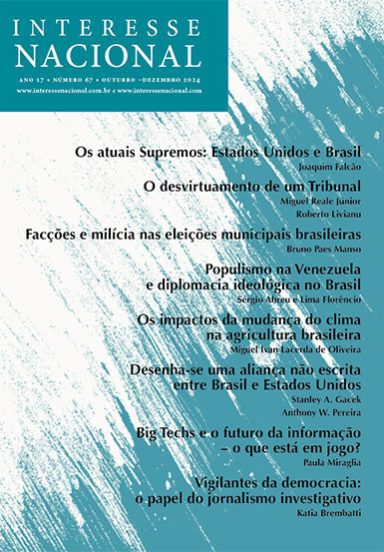O Puritanismo laico dos movimentos identitários
Há uma relação curiosa entre os movimentos identitários contemporâneos e o puritanismo. Refiro-me a um fundamento do puritanismo: a ‘obsessão pelo detalhe’. No caso dos movimentos identitários, essa obsessão se verifica, principalmente, no campo da linguística e da comunicação.
O que se chama de puritanismo protestante trata-se, na verdade, do calvinismo e de denominações por ele influenciadas, como o pietismo, as seitas batistas e o metodismo. Estas denominações surgiram e se espalharam, principalmente, em quatro países da Europa ocidental (Suíça, Alemanha, Holanda e Inglaterra) até chegarem aos EUA. Segundo Weber (2001), essas quatro denominações deram origem a outras que postulavam o mesmo tipo de conduta moral rígida comumente denominada ‘puritanismo’.
A relação entre a vida religiosa e as atividades práticas cotidianas se estrutura de maneira diferente entre o ponto de vista protestante e o católico. No catolicismo da época (séculos XVIII e XIX), as práticas ascéticas contemplativas no contato com Deus eram mais valorizadas, sendo elas hierarquicamente superiores a qualquer atividade secular. No protestantismo, particularmente na corrente calvinista, os deveres seculares já não se subordinavam aos ascéticos. Ou melhor, há um vazamento do ascetismo para a vida prática e mundana. Surge, assim, um ascetismo laico, secular, não mais restrito aos monges, aos padres, aos santos, não mais enclausurado em monastérios e conventos. As atividades do dia a dia transformam-se, também, em formas legítimas de dar glórias a Deus.
O ascetismo laico protestante se materializou especialmente entre os adeptos das denominações puritanas, citadas acima. Cria-se, assim, a ideia de uma nova aristocracia espiritual, não mais apartada da vida mundana e superior a ela, como a dos monges, e sim uma aristocracia espiritual embebida no mundo da vida, do cotidiano.
(…) tornar a invisível Igreja dos eleitos visível sobre a terra. Sem ir tão longe para se tornar uma seita separada, seus membros tentavam viver, em tais comunidades, uma vida livre de todas as tentações do mundo e dedicada, em todos os pormenores (grifo nosso), à vontade de Deus, e com isso obter a certeza de seu próprio renascimento, pelos sinais externos manifestados em sua conduta diária (WEBER, 2001, p. 96).
Portanto, o ascetismo laico puritano se volta com toda a força contra o regozijo terreno e implementa uma verdadeira guerra às tentações da carne. Segundo Weber, entre os prazeres da vida interditados se encontravam o esporte (quando este não visava apenas ao condicionamento físico), as artes plásticas, o teatro, a literatura não científica, estendendo-se aos hábitos dos vestuários, da alimentação, da linguagem etc. A atitude desconfiada e hostil dirigia-se na verdade a todos os aspectos da cultura que afastassem o homem da religião e de seu trabalho na vocação, ou ainda, a aspectos que não tivessem um valor religioso imediato, sendo considerados irracionais e sem propósito objetivo, portanto, inúteis e mesmo funestos. Os prazeres interditados simbolizavam a glória do homem e a idolatria da carne, sendo, por isso mesmo, contrários à glorificação de Deus, que exige simplicidade e sóbria utilidade. Esse aspecto do puritanismo incentivava, portanto, a uniformização da vida dos fiéis, conformando práticas, corpos e mentes.
Quem também aborda essa “obsessão pelo detalhe” é Foucault (2014, p.137): “a disciplina é uma política do detalhe”. Foucault trata da passagem do poder soberano (Idade Média até o século XIX) a um tipo inédito de poder chamado governo, ou governamentabilidade, que se baseia em novas estratégias: em táticas disciplinares. Se o poder soberano representava o poder do rei de tirar a vida, na nova razão governamental baseada na disciplina, o poder é aquele de gerir a vida; se o foco antes era a proteção, expansão e gerenciamento do território, agora o foco é o gerenciamento dos homens. As técnicas disciplinares dirigem-se para os indivíduos de forma contínua e permanente. Sua base não é apenas a lei, mas principalmente a norma, a padronização.
Em todo caso, o “detalhe” era já há muito tempo uma categoria da teologia e do ascetismo: todo detalhe é importante, pois aos olhos de Deus nenhuma imensidão é maior que um detalhe, e nada há tão pequeno que não seja querido por uma dessas vontades singulares. […] Para o homem disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe é indiferente, mas menos pelo sentido que nele se esconde que pela entrada que aí encontra o poder que quer apanhá-lo (FOUCAULT, 2014, p. 137).
Ou seja, Foucault percebe a correlação entre a “obsessão pelo detalhe” das sociedades disciplinares modernas e a “obsessão pelo detalhe” puritano: entre religião e política. A sociedade disciplinar é aquela em que a norma rege os mais ínfimos parâmetros da vida, seguindo a linha do que ocorre nos quartéis do Exército e nas escolas: como andar, como parar, onde sentar, como sentar, como falar, o que falar, como comer, como se vestir etc. Da mesma forma que no puritanismo há um vazamento do ascetismo religioso para a vida prática e mundana (como vimos acima, em Weber), nas sociedades disciplinares, o modelo escolar e do Exército vaza para o resto da sociedade que se torna, assim, intensamente normatizada.
Mas de que forma os movimentos identitários – que, idealmente, deveriam combater a normatização moralista puritana e disciplinar – manifestam essa obsessão pelo detalhe? A relação com a linguagem é uma dessas formas.
O pecado das palavras ou a obsessão pelos detalhes
Analisando algumas polêmicas recentes envolvendo linguagem e movimentos identitários, o que temos se não uma obsessão pelo detalhe? As palavras, por exemplo, têm sido alvos constantes. Que palavras são machistas ou racistas? Quais podem ou não ser ditas? Quais devem ser abolidas? Há quem considere a palavra “mulher” transfóbica (o correto seria “pessoa com vagina”), outros querem proibir a palavra “criado-mudo” porque seria machista.
Recentemente, uma agência de fact checking, a Agência Lupa, publicou uma lista de palavras e expressões da língua portuguesa que deveriam ser abolidas porque seriam racistas. Entre elas, “doméstica”, “feito nas coxas” e “criado-
-mudo”. Segundo a agência, “doméstica” tem o sentido de “domesticada”, era a escrava que trabalhavam nas casas das famílias brancas (ou seja, os negros eram considerados animais que deveriam ser domesticados); já “feito nas coxas” viria do modo de produção de telhas de barro, que seriam moldadas nas coxas dos escravos; enquanto “criado-mudo” teria origem em uma função exercida por negros escravizados na casa dos senhores de escravos: ficarem parados, em silêncio, segurando algum objeto.
Em primeiro lugar, essas etimologias estão incorretas. “Doméstico” vem do latim domesticus (de casa, particular, privado) porque deriva do grego dómus (casa, habitação, moradia dos deuses). Daí “ambiente doméstico”, “economia doméstica”, “empregada doméstica”, termos que nada têm de racismo. “Feito nas coxas” também é uma invenção. As telhas das casas do período colonial eram enormes, muito maiores do que as coxas de um ser humano. Além disso, coxas têm tamanhos diferentes: seria impossível construir telhados viáveis com telhas de tamanhos tão díspares.
Já “criado-mudo” também existe em inglês dumbwaiter e em alemão stummer diener. No primeiro caso, significa o elevador que levava comidas e pratos da cozinha (que ficava no piso térreo) para a sala de jantar e vice-versa; em alemão, o termo se refere a um tipo de cabide de roupas. Porém, não há comprovação alguma de que essas palavras tenham ligação com sistema escravocrata e com racismo, assim como o termo em português. Essa etimologia foi inventada pela militância identitária e usada por uma loja de móveis brasileira para vender “criado-mudo” sem chamar de “criado-mudo” e, pelo visto, a Agência Lupa não investigou essa informação e a repetiu. Até a empresa multinacional Amazon reproduz esse erro. Quando digitamos “criado-mudo” na busca do site, aparece a seguinte mensagem: “Criado-mudo não. O correto é mesa de cabeceira. Criado-
-mudo é um termo com conotação racista. Por isso, estamos removendo o uso em nosso site”.
Etimologias estão sendo inventadas com o propósito de eliminar o uso de palavras e expressões da língua portuguesa. Ou seja, querem censurar palavras. Ora, a etimologia é uma área do conhecimento como qualquer outra e merece ser respeitada. A língua é patrimônio cultural de um povo e deve ser preservada. Óbvio que uma língua muda ao longo do tempo, mas a partir de mudanças naturais e paulatinas nas falas dos falantes, não a partir de imposições acadêmicas e muito menos a partir de inverdades com verniz acadêmico. Em que isso difere da atitude puritana, vista anteriormente, de proibir os mais ínfimos atos do cotidiano? Não difere em nada. Ou melhor, difere apenas na origem: em vez da religião, a política. Logo, estamos diante de um puritanismo laico, secular.
Esse puritanismo laico se verifica inclusive com termos que são usados de forma racista. Isso porque as palavras não estão presas no dicionário. O significado de uma palavra ou expressão se constitui a partir dos contextos de interação.
O contexto de interação – a situação de fala dá a carga pragmática
A palavra “judiar”, por exemplo, tem origem no antissemitismo, na perseguição sofrida por judeus ao longo da história. Porém, ninguém pensa em campos de concentração quando ouve a música “Judia de mim”, do cantor Zeca Pagodinho, num churrasco com os amigos. O contexto de interação dos ouvintes, nesse caso, é de recreação, amizade, entretenimento e a letra fala de um homem que sofre de amor por uma mulher que não o trata bem. Nada remete a antissemitismo.
Da mesma forma, se, durante uma partida de futebol, a torcida argentina grita “Macaco!” para um jogador negro brasileiro, esse termo não possui o mesmo significado que em uma frase na Wikipédia como “o macaco é um tipo de símio ou primata antropoide”. O primeiro sentido é figurado, uma ofensa racista que iguala um ser humano a um animal; o segundo é o sentido literal de “macaco”. Porém, nem todo sentido figurado é racista, como nas expressões “Vá pentear macaco!” ou “Macaco velho não mete a mão em cumbuca”.
Até mesmo os chamados “palavrões” nem sempre são ofensivos e dependem dos contextos de interação: falar um palavrão com amigos, bebendo cerveja em um boteco é diferente de para usar um palavrão com sua avó no almoço de domingo. O efeito de sentido produzido, em cada caso, será diferente e provocará reações diferentes no interlocutor. Seus amigos podem rir e sua avó pode ficar chateada.
A censura de palavras e expressões proposta pelo identitarismo se baseia em uma visão pragmática da linguagem: palavra é ação. Porém, essa é uma visão bastante limitada do caráter pragmático da língua.
Austin (1973), ao analisar os atos de fala, no famoso livro Como fazer coisas com palavras, deixou claro que a palavra em si não tem esse poder. É o contexto da interação, a situação de fala, que implica a carga pragmática (na ação): se eu, usando um exemplo bem simples, digo “eu te batizo” e jogo água na testa do meu sobrinho recém-nascido, minhas palavras não terão efeito algum (meu sobrinho não terá sido batizado) porque não sou um padre, não estou em uma igreja e meu irmão é ateu. Ou seja: na constituição do significado e do efeito pragmático das palavras, é fundamental saber quem fala, para quem fala, onde fala, quando fala, como fala etc.
Logo, não faz o menor sentido proibir palavras de forma apriorística, sem saber como, onde e com quem serão proferidas. E isso se passa mesmo com expressões ofensivas. Butler (1997) aponta isso no livro Excitable Speech, quando fala do discurso injurioso (também conhecido como “discurso de ódio”): “afirmar que certos proferimentos são sempre ofensivos, independentemente do contexto, que carregam seus contextos consigo de modo de difícil descrição, ainda é não compreender como o contexto é invocado no momento do proferimento”. Isso quer dizer que as palavras não contêm, em si, a injúria. A situação, os atores e os contextos é que implicam a injúria, que nunca é estanque e fechada em si mesma. Ela usa o exemplo do termo em inglês queer que, originalmente, foi usado para ofender homossexuais. Porém, este próprio grupo ofendido se apossou do termo, ressignificando-o e retornando o termo para o interlocutor na forma de um contra discurso. Atualmente, o termo queer não tem mais caráter ofensivo.
Nas democracias liberais modernas a esfera do debate público é uma peça fundamental para fiscalizar políticas públicas e demandar ações dos governos. Nesse sentido, a palavra tem poder e é um ator no jogo político. Por isso mesmo, a forma mais efetiva e menos autoritária de buscar soluções de problemas que atingem minorias – como homossexuais, mulheres, negros etc. – é mais palavras, não menos. Mais discursos que ressignifiquem usos ofensivos das palavras (como ocorreu com o termo queer), por exemplo.
Para não incorrer na “obsessão pelo detalhe” puritano – que considera determinadas práticas, objetos e palavras do cotidiano como do mal ou do bem, de forma apriorística –, é necessário conhecer o funcionamento da língua, os mecanismos de atribuição de sentido, as condições dos efeitos pragmáticos da linguagem e perceber que o significado das palavras só se constitui plenamente em contextos de interação. Afinal, não faz o menor sentido que movimentos identitários usem a mesma lógica autoritária e moralista que pretendem combater. Censura não se combate com mais censura, e sim com mais liberdade.
Referências:
AUS TIN, J.L. How to do things with words. New York: Oxford University Press, 1973.
BUTLER, Judith. Excitable Speech. Oxfordshire: Routledge, 1997.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 2014.
WEBER, Max. A ética protestante e a lógica do capitalismo. São Paulo: Marin Claret, 2001.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional