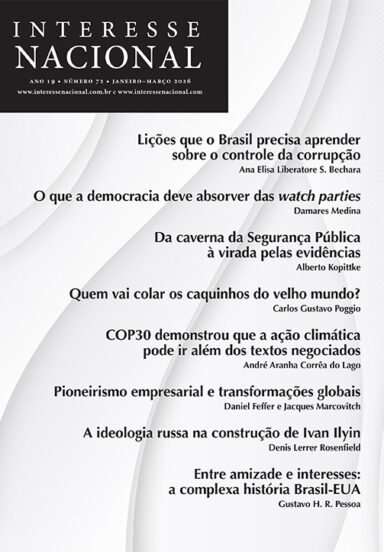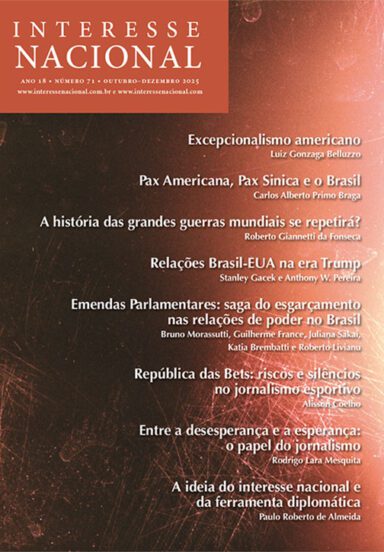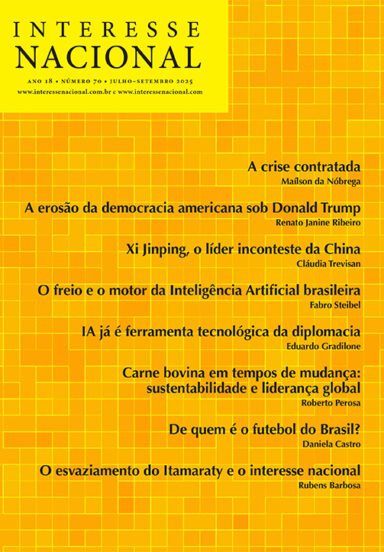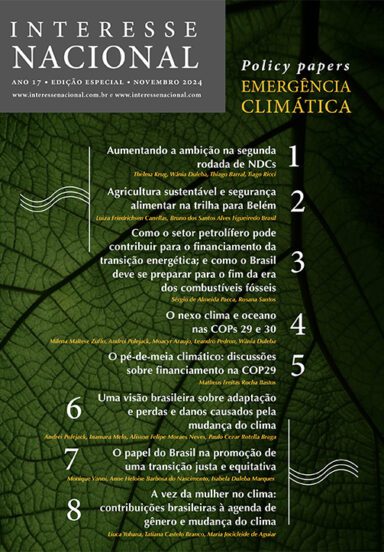Os problemas de uma nova Constituinte
Ives Gandra da Silva Martins
Ives Gandra da Silva Martins, Professor Emérito das Universidades Mackenzie, Unip, Unifieo, UNIFMU, do CIEE/O Estado de São Paulo, das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército – Eceme, Superior de Guerra – ESG e da Magistratura do Tribunal Regional Federal – 1ª Região; Professor Honorário das Universidades Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia); Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUC-Paraná, e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomercio – SP; Fundador e Presidente Honorário do Centro de Extensão Universitária – CEU/Instituto Internacional de Ciências Sociais – IICS.
A Constituinte de 1998 alargou as hipóteses de cláusulas imodificáveis na lei suprema, que, no texto anterior, centrava-se, apenas, na impossibilidade de eliminação da República e da Federação. Pelo artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), abriu-se a possibilidade da volta da monarquia, através do plebiscito, que, todavia, realizado, outorgou ao sistema monárquico o voto de apenas 10% do eleitorado brasileiro. E, nas cláusulas pétreas do § 4º do artigo 60, a República não permaneceu como cláusula imodificável do texto constitucional, como decorre dos quatro incisos, cuja dicção é a seguinte:
“Art. 60. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I. a forma federativa de Estado; II. o voto direto, secreto, universal e periódico; III. a separação dos Poderes; IV. os direitos e garantias individuais”.
São quatro as únicas cláusulas imodificáveis. Tudo o mais pode ser alterado por normas constitucionais que, todavia, devem seguir o rito estabelecido em todas as disposições do art. 60, que reproduzo, exceção feita ao § 4º:
“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I. de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II. do presidente da República; III. de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de Estado de defesa ou de Estado de sítio. § 2º A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem………..; § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.”
Temos, pois, mecanismos para alterar sistemas e regimes dentro do texto constitucional, lembrando que tal abertura ofertada pelo constituinte já gerou 101 emendas, a saber: 95 no rito ordinário e seis no rito do artigo 3º do ADCT. Vale dizer, em 29 anos de Lei Suprema?, temos 101 emendas, enquanto o texto constitucional americano, ao longo de 230 anos, tem apenas 27. No entanto, uma Constituinte exclusiva teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional atual e futuro, limitado, à evidência, pelas referidas normas inalteráveis do texto maior. Haveria duas possibilidades: a primeira delas, muito pouco provável, que os parlamentares abrissem mão de elaborá-la, deixando a tarefa para constituintes eleitos que, ao término de sua atuação, voltariam para casa e não concorreriam por, pelo menos, dois mandatos; a outra, uma constituinte que, na verdade, seria a elaboradora de uma Emenda Constitucional alargada, atingindo todo o sistema, mas conduzida pelos próprios parlamentares atuais ou futuros – o que, vale dizer, dificilmente mudariam algo que não mudaram até agora, nada obstante a vontade demonstrada por parcela da população. Na primeira hipótese, seriam não políticos – provavelmente professores — a elaborar a Carta e, na segunda, seriam os mesmos que já elaboraram as 101 emendas, nestes 29 anos. Como se percebe, a possibilidade de termos algo semelhante ao que já temos é muito grande e o risco de termos uma Constituição pior do que a atual não é pequeno. É de se lembrar que a própria Constituinte de 1988 (E.C. 26/85) foi contestada como “constituinte originária”, ao argumento de que um poder constituinte derivado não poderia gerar uma constituinte originária.
As constituintes originárias decorrem de revoluções e quebras de sistemas institucionais anteriores, algo que não houve em 1985, pois o país saiu do regime militar para uma democracia plena naturalmente, por eleições indiretas, em que o candidato dos militares foi derrotado. De qualquer forma, a maioria da doutrina houve por bem considerá-la como originária, sob a alegação de que, embora não tivesse havido ruptura institucional, saiu-se de um governo militar para um governo civil. No momento, todavia, tal matéria não se discute. Vivemos em pleno regime democrático, com as instituições – nada obstante os escândalos de corrupção que macularam os governos anteriores –, funcionando – e bem – e com respeito às decisões judiciais, pleno de direito de defesa sendo exercido: Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário atuando com visibilidade e transparência e as forças armadas respeitando o processo democrático, sem necessidade de intervenção, o que lhe é facultado nas hipóteses do caput do artigo 142 da CF, assim redigido:
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e se destinam à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Não há, pois, queixas quanto ao funcionamento das instituições, nada obstante as pessoas que as representavam até há pouco, não tivessem feito jus aos cargos que ocupavam. Com efeito, dos quatro presidentes eleitos desde a promulgação da CF de 1988, dois foram afastados por improbidade administrativa, em processo jurídico irrepreensível junto ao Congresso Nacional, lembrando-se que mais do que a improbidade administrativa, a ingovernabilidade pesou no seu afastamento. É que, como mostrei no meu parecer – o primeiro sobre o impeachment – e no livro que coordenei com José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, Dirceo Torrecillas, Mayr Godoi e Sérgio Ferraz, sobre o tema, o julgamento jurídico do impeachment, no direito brasileiro – embora nossa Constituição seja, nesse aspecto, semelhante a outros textos constitucionais – é jurídico político, em que a ingovernabilidade é também levada em consideração. Não sem razão, das 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas e uma presidencialista, conforme Lijphart demonstrou, no seu clássico livro intitulado Democracies e editado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. É que o afastamento de um chefe de governo, nos sistemas parlamentares, é intraumático e não doloroso, como nos sistemas presidenciais. É de se lembrar que, como dizia Raul Pilla – presidente nacional do partido que presidi em São Paulo entre 1962 a 1964 –, o sistema presidencialista é o da irresponsabilidade a prazo certo e o parlamentarista o da responsabilidade a prazo incerto. Eleito um irresponsável, no presidencialismo, apenas pelo processo penoso do impeachment pode-se afastá-lo. Ao contrário, no sistema parlamentar o voto de desconfiança do Congresso o afasta sem traumas.
E a separação entre as figuras do Chefe de Estado e Chefe de Governo dá aos chefes de Estado a serenidade e moderação para escolher novos governos, nas quedas de gabinete. Entretanto, com burocracia profissionalizada e a possibilidade de dissolução do Parlamento pelo chefe de Estado, no sistema de pesos e contrapesos, termina facilitando a responsabilidade por parte do governo e do Parlamento, com a figura de moderador do Chefe de Estado. Assim, os partidos crescem, no Parlamentarismo, enquanto, na maioria dos regimes presidencialistas, são meras legendas. Quando se diz que o Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partidos políticos, respondo que o país não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo.
O certo é que, no atual sistema presidencial brasileiro, temos visto representantes do povo que não se portam à altura do mandato recebido, com o populismo da época das eleições ainda tisnando a escolha daqueles que dirigirão o país. Coordenei livro sobre o Parlamentarismo, intitulado Parlamentarismo Realidade ou Utopia?, editado pela Academia Internacional de Direito e Economia e pelo Conselho Superior de Direito da Fecomércio (SP), que presido, presidindo, Ney Prado, a Academia. Realizamos, em setembro de 2016, na sede da Fecomércio (SP), Simpósio Nacional com presença de ministros do STF, parlamentares e professores, contando o evento com ampla adesão dos participantes à discussão do tema. Tenho dito que a ignorância é a homenagem que a estupidez presta ao populismo. Infelizmente, é o que tem acontecido no Brasil. Li a defesa que três amigos e brilhantes juristas (Modesto Carvalhosa, José Carlos Dias e Flávio Bierrenbach) fizeram de uma Constituinte exclusiva, estando de acordo com a grande maioria dos pontos que defendem. Ocorre que todos esses pontos podem ser assegurados por emendas constitucionais, sem necessidade de convocação de uma assembleia constituinte exclusiva, pois não afetam as cláusulas pétreas do § 4º, do artigo 60, da Lei Suprema, retro transcrito. Um plebiscito para aprová-los poderia ser convocado, lembrando-se, todavia, que os plebiscitos têm que ter como base perguntas cujo nível de generalização dificulta a forma de concretização de pontos escolhidos, sem grandes debates. O referendum, a partir de um texto constitucional aprovado, seria mais coerente, com consulta popular a posteriori.
Mas, o texto pode não representar o que o povo desejaria e a rejeição poderia ser fácil, pela maioria dos descontentes com este ou aquele tópico do texto submetido ao referendum. Por fim, a iniciativa popular poderia ser apenas um início, lembrando-se que, para aprovar um texto proposto, haveria necessidade de 3/5 das duas casas legislativas em duas votações. Não seria, pois, uma mera proposta de 2 milhões de eleitores que seria capaz de superar a vontade dos quase 140 milhões de eleitores representados no Congresso Nacional. Parece-me, pois, insuperável a questão de uma nova Constituinte, mormente quando a expressiva maioria dos pontos propostos pelos ilustres colegas que a inspiram pode ser aprovada por emenda constitucional, no sistema atual. Sou, pois, contrário a uma Constituinte Exclusiva, embora já tenha sido favorável a ela no processo constituinte, quando o deputado Flávio Bierrenbach era relator. Escrevi a favor de sua proposta. Hoje, apesar de me considerar favorável à maior parte dos pontos propostos, no mérito, naquela apresentada pelos eminentes colegas, não vejo necessidade de uma constituinte exclusiva. Pessoalmente, neste artigo, gostaria de expor, agora, uma posição minha sobre outro aspecto relevante: a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, a meu ver, de matéria que se reveste de particular importância, mormente em face do ativismo judicial que a Suprema Corte, nada obstante a excelência de seus magistrados demonstrada, nos últimos tempos, invadindo competências nitidamente outorgadas pela Lei Suprema ao Legislativo e não ao Judiciário .
Durante os trabalhos constituintes, mantive inúmeros contatos com seu relator, senador Bernardo Cabral, e alguns, com seu presidente, deputado Ulisses Guimarães, sobre ter participado de duas audiências públicas (Sistema Tributário e Ordem Econômica) em subcomissões presididas pelos deputados Francisco Dornelles e Antônio Delfim Netto, respectivamente, apresentando, a pedido de alguns constituintes, sugestões de textos. Em um jantar de que participaram o senador Bernardo Cabral, o desembargador Odyr Porto, então presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e o ministro Sydney Sanches, da Suprema Corte, no qual discutíamos o perfil que o Poder Judiciário deveria ter no novo texto, sugeri, para a Suprema Corte ― cuja importância pode ser definida na expressão do jusfilósofo inglês H.L. Hart, The law is what the Court says it is (The concept of Law) ―, que a escolha deveria recair sobre pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada indicadas pelas diversas entidades representativas dos operadores do Direito.
O conhecimento jurídico deveria ser não só notório (reconhecimento da comunidade), mas notável (conhecimento indiscutível). Pela minha sugestão, o Conselho Federal da OAB indicaria o nome de seis consagrados juristas, o Ministério Público, outros seis, e os tribunais superiores, mais seis (2 STF, 2 STJ e 2 TST), com o que o presidente da República receberia uma lista de 18 ilustres nomes do Direito brasileiro para escolher um. Todas as três instituições participariam, portanto, da indicação. O presidente, de um lado, entre 18 nomes, escolheria aquele que, no seu entender, pudesse servir melhor ao país. Por fim, o Senado Federal examinaria o candidato, não apenas protocolarmente, mas em maior profundidade, por comissão especial integrada por senadores que possuíssem a melhor formação jurídica entre seus pares. No entanto, em minha sugestão, manter-se-ia o denominado ‘quinto constitucional’, ou seja, três dos 11 ministros viriam da advocacia e do Ministério Público, com alternância de vagas: ora haveria dois membros do MP e um da advocacia, ora dois ministros vindos da advocacia e um do Ministério Público.
De qualquer forma, para as vagas dos 11 ministros, as três instituições (Judiciário, Advocacia e MP) elaborariam suas listas sêxtuplas. Acredito que minha proposta ensejaria uma escolha mais democrática, mais técnica, com a participação do Legislativo, do Executivo, do Poder Judiciário, do MP e da Advocacia. Nada obstante reconhecer o mérito e o valor dos 11 ministros da Suprema Corte ― e mérito é reconhecido também no presidente Lula e nos ministros Márcio Tomás Bastos e Tarso Genro, que souberam bem escolhê-los― é certo que há sempre o risco potencial de uma escolha mais política que técnica. Tendo participado de três bancas examinadoras para concursos de magistratura (duas de juiz federal e uma de juiz estadual), sei quão desgastantes são tais exames. Examinei em torno de 6 mil candidatos para escolha de 40 magistrados federais e 57 estaduais. Para selecionar magistrados de 2ª e 3ª instâncias, os critérios também são rígidos e variados, assegurando-se uma participação maior da comunidade jurídica. Por que, para a mais alta Corte, não há nenhum critério, na nossa Constituição, a não ser o subjetivo, definido por um homem só? Afinal, pelo artigo 102 da CF, é o STF o guardião da Constituição e, apesar de certo ativismo judicial que poderia ser atalhado por força do artigo 49, inciso 11 da Lei Suprema, pelo Congresso Nacional, não há como não admitir que, apesar da crise, tem, o país, convivido sem traumas com as instituições atuando adequadamente [14].São algumas breves considerações sobre a necessidade ou não de uma nova constituinte, entendendo eu que podemos equacionar as sugestões de meus eminentes colegas, dentro dos parâmetros da Carta da República existente, sem necessidade de uma nova Constituinte.
[13].É de se lembrar que os artigos 92 a 126 cuidam do Poder Judiciário e de 127 a 135 das Funções Essenciais à Justiça” representados pelo Ministério Público e Advocacia.
14. O introito do artigo 102 e o inciso 11 do artigo 49 estão assim redigidos: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:………”; Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:…………XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;….”.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional