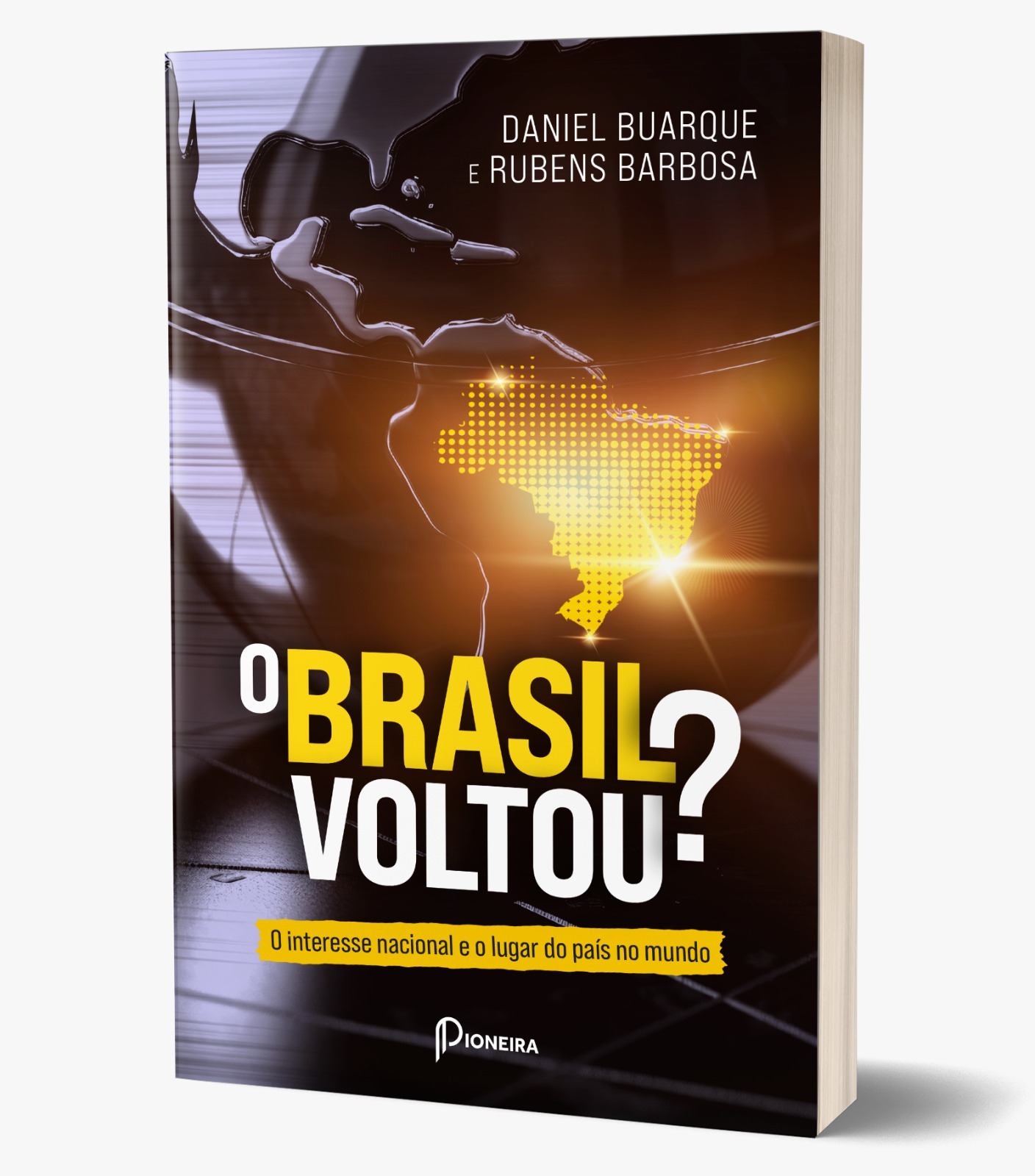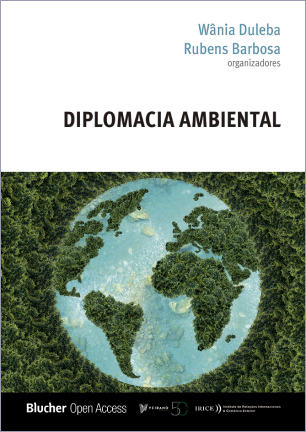A crise geoeconômica e o risco de um novo caos
Com a explosão de incertezas no decorrer da década de 2020 ficou claro que tão cedo não haverá uma nova ordem mundial, mas apenas “um novo caos”

Por José Eduardo Campos Faria*
À medida que o farsesco, mercurial e imperial presidente Donald Trump e seu caricato e rústico seguidor Dudu Bananinha vão ocupando as manchetes dos jornais e tevês, menor tem sido o espaço da mídia para fazer análises serenas, objetivas e aprofundadas dos problemas estruturais nos campos da geoeconomia e da geopolítica.
As chantagens de Trump com base na diplomacia do porrete e as ameaças com base em palavrões feitas por Bananinha podem ter até algum interesse para leitores e telespectadores. Contudo, esse é um interesse passageiro, que tende a dar lugar a outros interesses não menos passageiros, limitando assim um conhecimento mais rigoroso e analítico da realidade atual pelos leitores e espectadores.
Essa realidade é marcada pela perda progressiva da hegemonia política e econômica americana e pela ascensão da China, seguida pela Índia e por outros países asiáticos. Também é afetada pelas mentiras de Trump, como sua afirmação de que os esforços de institucionalização do Brics (que sequer carta constitutiva ainda têm) “prejudicariam o dólar”. E implica em impasses para a continuidade do sistema de organizações multilaterais surgido após a Segunda Guerra Mundial, com criação do FMI, do Banco Mundial e da OMC, sob liderança dos Estados Unidos. Um desses impasses, por exemplo, foi a desorganização das redes mundiais de suprimento e tensões nas cadeias globais de valor durante a pandemia.
A partir daí, vários problemas foram surgindo durante a segunda metade da década de 2020, multiplicando tensões no âmbito de uma economia até então cada vez mais globalizada e que restringia a autonomia nacional no campo da política. No plano político-institucional, um desses problemas foi a queda do número de regimes democráticos liberais de 42 para 34 num total de 60 países, segundo relatório do Variety of Democracy de 2022. O relatório de 2025 foi ainda mais sombrio. Ao analisar 179 países, ele apontou que o número de autocracias chegou a 91, enquanto o número de democracias caiu para 88.
No plano econômico, destacam-se os efeitos causados pela desregulação sem responsabilização do capitalismo neoliberal, pela subsequente redução do tamanho das máquinas governamentais e pelo desmonte de alguns importantes mecanismos de controle sobre o processo decisório do Executivo. Já no plano social, a concentração de renda e o desprezo à desigualdade pelas forças de mercado cresceram significativamente. Na mesma linha, a exclusão e o empobrecimento decorrentes de políticas neoliberais corromperam a noção de direitos sociais mínimos, ao mesmo tempo em que também expandiram o alcance de um autoritarismo dissimulado que inviabilizou progressivamente as resistências das diferentes instâncias do sistema judicial, tornando mais difícil assim o controle do Estado.
Por fim, no plano político eclodiram vários problemas interconectados. Nesse sentido, merecem destaque (i) o impacto da pandemia sobre as cadeias globais de valor e, por consequência, sobre o multilateralismo político; (ii) a indiferença à tragédia e às minorias por governos de extrema direita; (iii) a disseminação da desinformação por políticos que mentem em torno das verdades que tentam esconder; (iv) a difusão de narrativas mentirosas por parte das big techs e das redes sociais; (v) a subsequente crise dos partidos social-democratas e a ascensão de agremiações de extrema direita e de movimentos populistas fascistas; e, por fim, (vi) a ação corrosiva de maiorias parlamentares ocasionais, abrindo caminho para um autoritarismo progressivo ao desmontar franquias democráticas por meio de projetos de lei ordinária votados às pressas e sem precisar alterar a Constituição.
Todas essas mudanças foram muito além de aumentar incertezas no mercado financeiro, deflagrar períodos de intensa volatilidade econômica e abrir caminho para governos voluntariosos, erráticos e truculentos, como o de Trump nos Estados Unidos, entre 2017 e 2021, e o de Bolsonaro no Brasil, entre 2019 e 2022. Acima de tudo, essas mudanças comprometem a ordem global que vigorou entre o final do século 20 e as duas primeiras décadas do século 21. No entanto, como ainda não há alternativas minimamente delineadas à vista, o que se pode esperar de uma reconfiguração global: o advento de um sistema multipolar ou um sistema multilateral redefinido?
Os resultados dessas mudanças foram – e continuam sendo – a desconfiança, a insegurança, a imprevisibilidade e a vulnerabilidade. Esse é o motivo pelo qual o recente uso deturpado da Lei Magnitsky causou incerteza nos mercados. Em vigor desde 2012, originariamente essa lei foi aprovada pelo Congresso americano com o objetivo de negar entrada nos Estados Unidos a indivíduos estrangeiros envolvidos com organizações terroristas, quadrilhas mafiosas, corrupção e violação de direitos humanos, e também de puni-los por meio de sanções como bloqueio de bens e fechamento de contas em qualquer banco que opere no território americano.
Contudo, desde que voltou à Casa Branca, Trump passou a aplicá-la de modo político e ideológico, com o objetivo de promover afrontas individuais, fragilizar instituições democráticas de outro país e inviabilizar transações feitas nos Estados Unidos por agências e filiais de instituições financeiras brasileiras que operam nesse país. Reforçando as iniciativas presidenciais, que atingem até mesmo magistrados de países que vivem há tempos em plena normalidade democrática, o Departamento de Estado divulgou recentemente nas redes sociais que “nenhum tribunal estrangeiro pode(ria) anular sanções impostas pelos Estados Unidos”.
Numa economia que está operacionalmente interligada pelo chamado Sistema Swift – uma rede mundial de comunicação entre instituições financeiras – e em que normas jurídicas de alcance extraterritorial cada vez mais se multiplicam, a ideia de que o direito de um país termina na fronteira nacional se tornou singela demais. Como a insegurança jurídica no sistema de pagamentos internacionais afeta a formalização de contratos, operações de câmbio, financiamentos, fluxos de capital e governança, foi justamente por isso que os bancos brasileiros registraram perda de R$ 41,9 bilhões em valor de mercado na segunda quinzena de agosto, um dia após um ministro do Supremo Tribunal Federal ter declarado “a impossibilidade de aplicação de ordens jurídicas estrangeiras sem trâmite específico no Brasil”.
Contudo, esse é só um dos lados da moeda – lado esse que também envolveu uma divulgação massiva nas redes sociais, por grupos bolsonaristas, de fake news destinadas a estimular uma corrida bancária no País. O outro lado é que, por causa da discussão sobre quem tem a última palavra com relação ao alcance da Lei Magnitsky no caso brasileiro, se o Supremo Tribunal Federal ou o Office of Foreign Assets Control, o aumento da insegurança e da imprevisibilidade poderá multiplicar a insegurança jurídica no País, abrindo caminho para mais impasses constitucionais e para mais tensões diplomáticas.
O maior risco dessa insegurança e da imprevisibilidade está em seu efeito cascata – e esse não é um risco só brasileiro. Ele pode, a um só tempo, minar sistemas políticos institucionalizados; enfraquecer democracias consolidadas; corroer estruturas administrativas hierarquizadas; e criar novos constrangimentos para o Supremo durante as sessões finais do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.
Como afirmou o historiador israelense Yuval Harari, em sua recente passagem pelo Brasil, com a explosão de incertezas no decorrer da década de 2020 ficou claro que tão cedo não haverá uma nova ordem mundial, mas apenas “um novo caos”. Neste momento em que começa a etapa final do julgamento de Bolsonaro, é sobre isso que os meios de comunicação devem concentrar sua atenção, em vez de perder tempo com as falas ameaçadoras do mercurial presidente Trump e as bobagens ditas pelo filho bananinha do ex-presidente.
*José Eduardo Campos Faria, professor da Faculdade de Direito da USP
Este texto é uma reprodução autorizada de conteúdo do Jornal da USP - https://jornal.usp.br/
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional