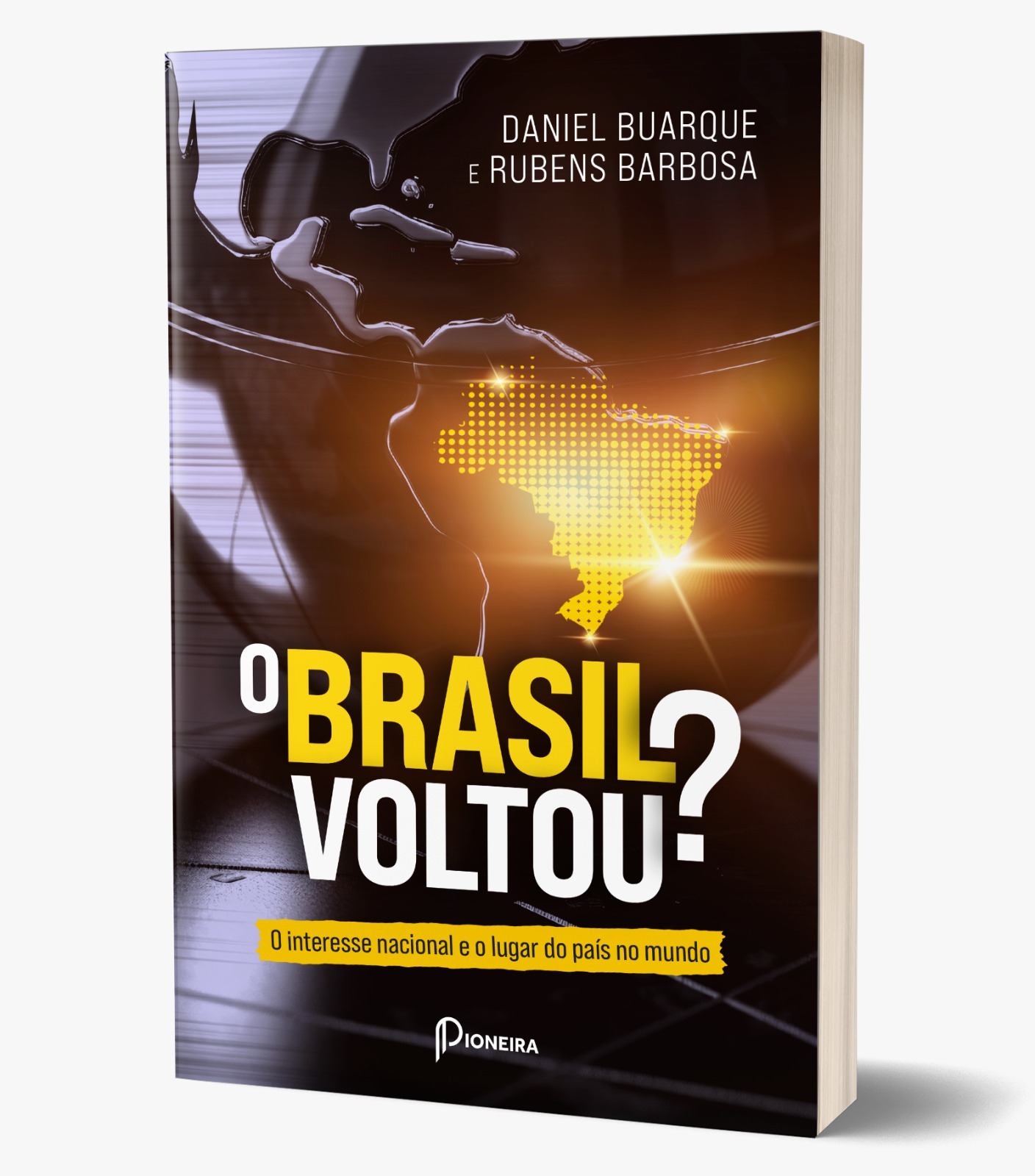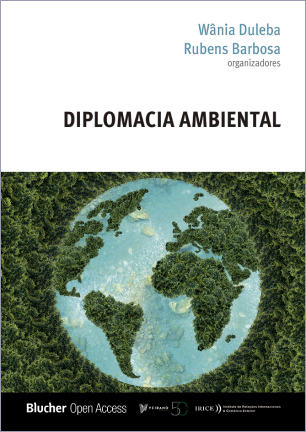A nova posição do Brasil no mapa das migrações internacionais
Restrições à entrada em países do Norte global e características da legislação favorecem a chegada de estrangeiros no território nacional desde o começo dos anos 2000

Por Christina Queiroz
Há 10 anos, a comoção mundial causada pela fotografia de Aylan Kurdi, refugiado sírio de apenas 3 anos que tentava chegar à Grécia com a família e foi encontrado morto em uma praia da Turquia, colocou as fronteiras europeias no centro do debate migratório. Mudanças em políticas de países do Norte global, que vêm adotando leis ainda mais rígidas para receber estrangeiros em seus territórios, têm colaborado para redefinir a posição do Brasil na geopolítica das migrações internacionais.
A constatação faz parte dos resultados apresentados na nova edição do Atlas temático lançada neste ano pelo Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas (Nepo-Unicamp). “O endurecimento dessas regras cria novas rotas migratórias e faz do Brasil um dos principais pontos de passagem para quem deseja entrar em países do Norte global”, afirma a demógrafa Rosana Baeninger, coordenadora do trabalho.

O Norte e o Sul global são termos que se referem a uma divisão socioeconômica e política do mundo. O Norte abarca países caracterizados por economias avançadas e altos níveis de renda per capita, como os da Europa Ocidental, América do Norte, Austrália, Japão e Nova Zelândia. Já o Sul global refere-se a nações em desenvolvimento e subdesenvolvidas, principalmente da África, Ásia, América Latina e Caribe, que enfrentam desafios como pobreza e desigualdade. China e Índia são também consideradas parte do Sul global.
De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2010 e 2022 o contingente de pessoas estrangeiras e de brasileiros naturalizados pulou de 592 mil para 1 milhão, o que representa um aumento de 70% (ver gráfico abaixo). O avanço marca um ponto de inflexão em relação às décadas anteriores. “O número de estrangeiros residentes no Brasil vinha caindo desde a década de 1960”, informa Marcio Mitsuo, gerente de Projeções e Estimativas do IBGE.
Pelos cálculos do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), vinculado à Universidade de Brasília (UnB) e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), esse número é ainda mais alto. De 2010 a 2022, a instituição contabilizou 957 mil novos registros de imigrantes e 327 mil solicitações de refúgio, sem contar as pessoas estrangeiras naturalizadas. “Se somarmos os números de novos registros de imigrantes e solicitantes de refúgio com o estoque de 600 mil imigrantes do Censo de 2010, cerca de 2 milhões de imigrantes poderiam estar morando hoje no Brasil”, afirma o estatístico Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, coordenador do OBMigra.
Até 2010 os europeus eram maioria entre os imigrantes. Mas a partir de então começaram a predominar os latino-americanos (ver gráfico). Conforme o Censo, entre cerca de 1 milhão de estrangeiros residentes atualmente no país, 464 mil vêm dos países da região. Desses, 271 mil são venezuelanos. A principal porta de entrada para esse fluxo é o estado de Roraima, seguido pelo Amazonas. A partir de 2016, essas duas unidades federativas passaram a receber uma grande quantidade de venezuelanos em razão da crise humanitária deflagrada naquele país.
Na ocasião, o governo federal criou a Operação Acolhida para fornecer documentos, vacinas e abrigo para esses imigrantes. Como informa William Laureano da Rosa, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), o programa já atendeu até o momento mais de 800 mil venezuelanos. Cerca de metade deles permaneceu no país, sendo que a maioria (ou 266 mil) foi reconhecida como refugiada, segundo o relatório “Refúgio em números 10ª edição”, publicado em 2025 pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) em parceria com o OBMigra.
O documento mostra que o país recebeu 454 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, entre 2015 e 2024, e que 150,9 mil pedidos foram aceitos no período. O refúgio é concedido a cidadãos que fugiram de seus países de origem devido à perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, além de grave e generalizada violação de direitos humanos. Atrás dos venezuelanos, estão cubanos (52 mil), haitianos (37 mil) e angolanos (18 mil). Eles representam os maiores grupos de refugiados no país, fluxo que engloba ao todo 175 nacionalidades.
Tanto Rosa quanto Baeninger afirmam que o pontapé inicial para a configuração do cenário atual aconteceu em 2010, quando imigrantes haitianos chegaram ao Brasil por causa do terremoto que devastou o país e matou cerca de 300 mil pessoas (ver Pesquisa FAPESP nº 265). Para regularizar a situação desses haitianos, o governo federal concedeu a eles o chamado visto humanitário (ver glossário abaixo).
Baeninger explica que, nesse momento, o país já começava a mostrar seu reposicionamento na geopolítica das migrações internacionais. A tendência se acentuou nos anos seguintes. Em 2013, o Brasil foi um dos poucos países do mundo a reconhecer como refugiados cidadãos sírios que fugiam de uma guerra civil. Mais tarde, a partir de 2021, o governo concedeu visto humanitário a 15 mil imigrantes do Afeganistão. “Muitos afegãos, que vieram pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, permaneceram ali durante semanas à espera de abrigo”, conta Rosa. “Em alguns casos, decidiram ficar no local até conseguir organizar uma nova rota migratória, que normalmente tinha os Estados Unidos como destino final.” Além disso, o Brasil passou a receber imigrantes de países sem histórico de presença no território nacional, como Nepal, Vietnã e Índia.
Quando uma pessoa estrangeira desembarca no país sem visto, fica retida no aeroporto como um imigrante inadmitido. Ela pode solicitar o reconhecimento da condição de refugiado por meio de um formulário que, após ser protocolado pela Polícia Federal, autoriza sua entrada provisória. O documento é então enviado ao Conare, que vai avaliar a pertinência do requerimento, podendo negar ou aceitar o pedido de refúgio.

Segundo o economista e demógrafo Luís Felipe Aires Magalhães, coordenador-adjunto do Observatório das Migrações em São Paulo do Nepo-Unicamp, muitos imigrantes do Sul global chegam ao Brasil com a intenção de conseguir visto de residência ou reconhecimento como refugiado, para poder organizar as próximas etapas de seu projeto migratório com a situação regularizada no país. “Depois, eles deixam o país e, com o auxílio de redes de coiotes, tentam seguir por rotas terrestres até chegar aos Estados Unidos ou Canadá”, diz Magalhães.
O pesquisador é um dos autores do capítulo “Hoy me voy pa’l norte: ‘Crise migratória’ nas Américas e o Brasil como espaço de trânsito de migrantes internacionais”, publicado no livro Migração e refúgio: Temas emergentes no Brasil, lançado pelo Nepo-Unicamp no ano passado. O estudo envolveu trabalho de campo no Brasil e no México, bem como a análise de dados de organizações internacionais. Uma das pessoas consultadas foi uma religiosa da Pastoral do Migrante, que vivia entre o Acre, Amazonas e Roraima. Ela relatou ter atendido inúmeros haitianos na região que desejavam seguir para os Estados Unidos ou o Canadá, onde tinham familiares.
A socióloga brasileira Julia Scavitti, que integrou a equipe da pesquisa como parte do doutorado defendido em 2024 na Universidade Autônoma de San Luis Potosí, no México, realizou etnografia em albergues e nos arredores de Tapachula. A cidade, localizada ao sul do México, na fronteira com a Guatemala, é um ponto de passagem frequente para imigrantes, especialmente aqueles que têm como destino os Estados Unidos. Scavitti, que teve o doutorado financiado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México, observou a presença de muitos imigrantes que haviam iniciado sua jornada no Brasil e estavam no México planejando a ida para os Estados Unidos. De acordo com o texto, que também é assinado pelo geógrafo Caio da Silveira Fernandes, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), era comum ouvir pessoas estrangeiras falando português com diferentes sotaques, para se comunicar com os filhos, por exemplo.
Um dos fatores que ajudam a explicar o aumento no número de imigrantes no Brasil é o econômico. Segundo Oliveira, do OBMigra, as possibilidades de emprego e renda no país são melhores do que em outras nações do Sul global. Outro ponto favorável é a legislação. Ainda de acordo com o pesquisador, o Estatuto do Refugiado (Lei nº 9.474, de 1997) e a Lei de Migração (Lei nº 13.445, de 2017) se baseiam em princípios de direitos humanos.
A legislação vigente permite que o estrangeiro permaneça em território nacional enquanto aguarda a regularização de sua situação, processo que pode levar até dois anos. “Os solicitantes de refúgio obtêm um documento provisório que lhes permite circular pelo território, trabalhar com carteira assinada, acessar o Sistema Único de Saúde [SUS] e matricular os filhos na escola”, explica a cientista política Julia Bertino Moreira, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Migref: Migrações Transnacionais e Outras Categorias Migratórias no século XXI, da Universidade Federal do ABC (UFABC), campus de São Bernardo do Campo (SP). Moreira compara esse panorama com o protocolo adotado por diferentes países europeus, como Grécia e Espanha, onde os solicitantes de refúgio ficam retidos em unidades conhecidas como centros de detenção até terem a decisão final sobre os seus pedidos.

Em pesquisa iniciada em 2016 e em vigor até hoje, a antropóloga Rose Satiko Gitirana Hikiji, da Universidade de São Paulo (USP), mapeou a cena cultural e musical composta por imigrantes africanos na capital paulista. O estudo, que integra o projeto temático “O musicar local: Novas trilhas para a etnomusicologia”, financiado pela FAPESP, ouviu artistas da República Democrática do Congo, de Moçambique, do Togo e de Angola e resultou na produção de quatro documentários, co-dirigidos com o antropólogo Jasper Chalcraft, da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Um deles é São Palco – Cidade Afropolitana, que foi premiado como melhor longa na Mostra Ecofalante em 2025.
Entre os artistas entrevistados por Hikiji está um grupo de músicos e bailarinos togoleses que abandonou uma turnê internacional no Paraguai para se radicar em São Paulo em busca de melhores condições de vida. De acordo com a pesquisadora, a presença dessas pessoas era observada desde 2015 em festivais com manifestações culturais africanas, incluindo música, dança e gastronomia, em espaços pela cidade como as unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) e as Fábricas de Cultura.
O sociólogo Willians de Jesus dos Santos, que pesquisou no doutorado a cena contemporânea de músicos africanos em São Paulo, menciona ainda o festival Gringa Music, organizado pelo congolês Yannick Delass, em 2018 no bar Al Janiah, fundado por palestinos no bairro da Bela Vista, e o projeto Refúgios Musicais, promovido pelo Sesc Belenzinho, na zona leste da cidade. Em 2024, Santos defendeu tese na Unicamp com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

De acordo com o pesquisador, esses artistas africanos enfrentam uma segmentação de mercado. Em geral, são convidados para se apresentar em eventos ligados à negritude, como no mês da Consciência Negra, ou em espaços de música africana. Muitas vezes, ganham apenas visibilidade em vez de cachê. “Esses músicos não querem ficar presos à identidade de ‘artista africano’, pois isso limita o acesso deles a circuitos culturais mais amplos, comprometendo, inclusive, a possibilidade de ganhos financeiros”, avalia. Vários dos artistas entrevistados por Santos têm formação universitária, mas, como não conseguem sobreviver apenas da música, são obrigados a aceitar trabalhos pouco qualificados. “Além disso, eles relatam que no Brasil sofreram racismo pela primeira vez na vida”, acrescenta.
Os pesquisadores ouvidos pela reportagem reconhecem que a legislação brasileira oferece segurança jurídica e proteção a estrangeiros em situação de vulnerabilidade, mas há um descompasso entre as leis e a sua aplicação. “Precisamos de uma política nacional que articule as ações da União, dos estados e municípios. Sem isso, a permanência desses imigrantes no Brasil se torna difícil”, analisa o jurista Luís Renato Vedovato, da Unicamp, que concluiu em maio pesquisa financiada pela FAPESP sobre como a pobreza multidimensional (que leva em conta privações para além da renda mensal) afeta os imigrantes.
Essa lacuna tende a ser preenchida com a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, que acaba de ser criada pelo MJSP. De acordo com Luana Medeiros, diretora de Migrações do órgão, um decreto federal está sendo preparado para instituir a iniciativa. “A nova política prevê mecanismos para melhorar a articulação entre ações governamentais de diferentes ministérios e secretarias estaduais e municipais, além de ampliar a participação social na formulação e no acompanhamento de programas voltados a imigrantes”, finaliza.
A reportagem acima foi publicada com o título “Travessias possíveis” na edição impressa nº 355 de setembro de 2025.
Projetos
1. O conceito de dignidade humana relacionado às necessidades socialmente percebidas: Vulnerabilidades e direito das minorias (nº 22/15017-5); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Luis Renato Vedovato (Unicamp); Investimento R$ 55.048,50.
2. O musicar local: Novas trilhas para a etnomusicologia (nº 16/05318-7); Modalidade Projeto Temático; Pesquisadora responsável Suzel Ana Reily (Unicamp); Investimento R$ 4.516.674,87.
Artigos científicos
CHALCRAFT, J. e HIKIJI, R. S. G. Imagens que atravessam. Diáspora africana em performance. Artelogie. n. 16. 2021.
HIKIJI, R. S. G. e CHALCRAFT, J. Gringos, nômades, pretos – políticas do musicar africano em São Paulo. Revista de Antropologia. v. 5, n. 2. 2022.
Livros
BAENINGER, R. et al. (orgs.). Atlas temático: Observatório da emigração brasileira – Observatório das migrações dos países de língua portuguesa ‒ Migrações internacionais. v. 3. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó da Universidade Estadual de Campinas (Nepo-Unicamp). 2025.
HIKIJI, R. S. G. Filmar o musicar: Ensaios de antropologia compartilhada. São Paulo: FFLCH/USP. 2025.
MOREIRA, J. B. e MENEZES, M. A. (orgs.). Migrações transnacionais de refugiados e outras categorias de migrantes: Conceitos e experiências. Curitiba: Editora Appris. No prelo.
MAGALHÃES, L. F. A. et al. (orgs). Migrações e refúgio: Temas emergentes no Brasil. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó da Universidade Estadual de Campinas (Nepo-Unicamp). 2024.
Relatório
JUNGER, G. et al. Refúgio em números 10ª edição. Brasília, DF: Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública / Departamento das Migrações. 2025.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Este conteúdo foi produzido pela Pesquisa FAPESP, revista jornalística especializada em cobrir a produção científica e tecnológica do Brasil. É financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e conta com a consultoria de pesquisadores ligados à Fundação. A republicação em meios digitais é autorizada de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional