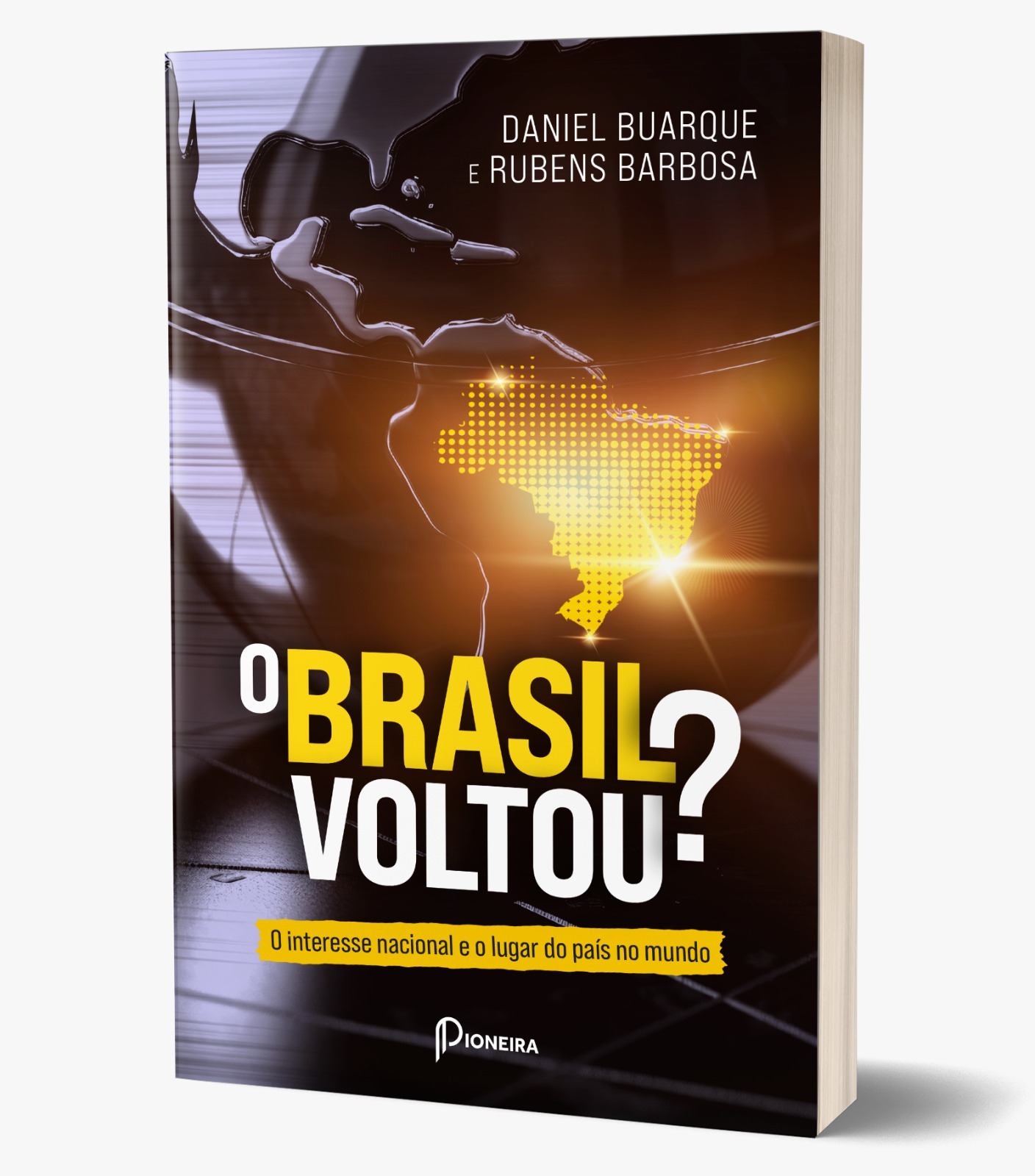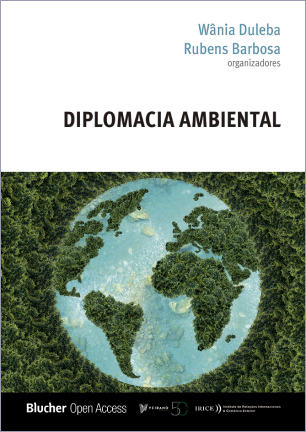De quem é o futebol do Brasil?
Artigo publicado na edição de número 70 da revista Interesse Nacional debate o conceito do futebol e o papel das entidades esportivas no Brasil
Nos últimos meses, o futebol brasileiro foi página em diversos noticiários tanto por causa da Seleção Brasileira – derrotas, falta de técnico etc. –, como por problemas relacionados aos seus dirigentes e à falta de gestão, de governança e de transparência. Já o esporte olímpico há alguns anos adota medidas de melhoria de governança e integridade – algo exigido pela legislação das entidades esportivas do segmento e que recebem recursos públicos para tal. Dentre as regras, há necessidade de adoção de melhorias como: limite de mandato de dirigente, voto de atletas, democratização do colégio eleitoral, transparência, entre outras. Isso teve grande impacto no esporte olímpico. Houve menos escândalos, mudanças estatutárias em todas as entidades, atletas fazendo a diferença nas eleições, maior transparência e práticas de governança. Mas esses avanços ainda não chegaram à Confederação Brasileira de Futebol. A alegação é que ela é uma entidade privada com autonomia absoluta. Mas será isso verdade? Qual o papel das entidades esportivas no Brasil? Para revisitar o conceito do esporte, o papel das entidades esportivas e seu funcionamento vale revisar o marco legal.
O Esporte adentrou em nosso ordenamento, em 1937, com a criação da Divisão de Educação Física, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, por meio da Lei 378/37. Com a aprovação do Decreto-lei nº 3.199, de 1941, o esporte estava sujeito a uma abordagem intervencionista possibilitando ao Estado criar ou extinguir entidades esportivas. A Lei 6.251 de 1975 manteve o caráter intervencionista e de controle das entidades.
Durante este período, o Brasil teve cinco Constituições, mas somente na última foi incorporado um capítulo exclusivo ao esporte, trazendo-o como um direito de todos os cidadãos. Esse modelo já era preconizado na Carta Internacional da Educação Física e Esporte da UNESCO, de 1978. Por isso, além do esporte ser transformado em direito, a Constituição Federal reforçou ser um dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais que considera o esporte tendo três dimensões: participação, educação e alto rendimento.
Após a Constituição Federal de 1988 até hoje, três foram os principais marcos regulatórios do Esporte, todos corroborando com o preceito constitucional de responsabilidade do Estado pelo esporte em nosso país: Lei Zico (Lei 8.672/93), que teve vigência até 1998 quando foi revogada com a publicação da Lei Pelé (Lei 9.615/98), e que convive ainda com a recém aprovada Lei Geral do Esporte (14.597/23). Além de outros marcos como: Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), Bolsa Atleta (Lei 10.891/04), Timemania (Lei 11.345/06), Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte (Lei 11.438/06), entre outros.
A Constituição Federal dita regras gerais fundamentais em relação ao esporte e há uma seção dedicada ao tema. Além de declarar ser o esporte direito de todos, dispõe que é dever do Estado brasileiro fomentar práticas desportivas formais e não formais, como também e não menos importante, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o esporte.
A prática esportiva é de alto interesse social
As duas principais legislações, sendo a última de 2023, seguiram e consolidaram na prática esse entendimento.
Primeiro a Lei 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, que nomeia as entidades esportivas como organizações que administram o esporte, sendo estas o Comitê Olímpico Brasileiro; o Comitê Paraolímpico Brasileiro; as entidades nacionais de administração do desporto (confederações); as entidades regionais de administração do desporto (federações); as ligas regionais e nacionais; as entidades de prática desportiva; a Confederação Brasileira de Clubes; o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP). Ou seja, essas organizações são as que administram o esporte brasileiro.
Vale ressaltar que o artigo primeiro da Lei Pelé é claro ao reiterar que a prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, e estas aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.
O mesmo caminho seguiu a Lei Geral do Esporte (Lei 14.597 de 2023), considerando o esporte como de alto interesse social, e sua gestão sujeita a princípios como transparência financeira e administrativa e conformidade com as leis e os regulamentos externos e internos; moralidade na gestão esportiva; e responsabilidade social de seus dirigentes. Inclui-se, ainda, um detalhamento de quais seriam esses princípios, tais como responsabilidade corporativa (dever de zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização); transparência; prestação de contas; equidade; integridade esportiva; e participação.
Esse último item diz respeito à importância da adoção de práticas democráticas de gestão com meios que possibilitem a participação de todos os membros da organização. O artigo 60 da Lei trata especificamente dos processos eleitorais, assegurando que as entidades devem ter colégio eleitoral “constituído por todos os filiados no gozo de seus direitos, admitida a diferenciação de valor dos seus votos, bem como por representação de atletas e, quando for o caso, de técnicos e de árbitros participantes de competições coordenadas pela organização responsável pelo pleito, na forma e segundo critérios decididos por seus associados”. A eleição deve ser convocada de forma transparente e justa e o sistema de votos imune a fraude, entre outros.
O ponto sobre eleições e colégio eleitoral é fundamental e está na causa-raiz de muitos dos problemas que assolam o esporte: a apropriação da entidade por parte de poucos dirigentes que atuam de forma fechada, pouco transparente e, muitas vezes, em prol de interesses próprios e não do esporte.
E por fim, a Lei Geral do Esporte que, além do apresentado, ainda dispõe que as entidades que administram o esporte de alto rendimento no país são pessoas jurídicas de direito privado, mas que se relacionam com os órgãos e as entidades do poder público sem prejuízo das atribuições do Congresso Nacional.
Mas por que, então, o discurso autonomia absoluta das entidades esportivas é tão arraigado?
Voltando à Constituição Federal, no artigo 217 há menção sobre a autonomia das entidades:
“(…) I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento.”
Nos debates que precederam a Lei Geral do Esporte, algumas entidades frisaram esse ponto dispondo no seu artigo 27, que a autonomia é um atributo das organizações esportivas em todo mundo, citando a Lex Sportiva. Mas será isso verdade? E qual o verdadeiro sentido da Lex Sportiva?
O sistema privado é transnacional e autônomo
A autonomia das entidades esportivas aparece pela primeira vez na Carta Olímpica de 1949 e ainda hoje é objeto de debate sobre seu conceito e alcance, e se realmente seria constituída de uma lei acima das leis supranacionais. Alguns autores entendem a autonomia como um mecanismo que impede o uso indevido do esporte para fins outros ou políticos em detrimento de seus princípios e finalidades.
Segundo conceito presente na Lei Geral do Esporte, a Lex Sportiva é o sistema privado transnacional autônomo, composto de organizações esportivas com suas normas e regras e dos órgãos de resolução de controvérsias, incluídos seus tribunais.
Para além do conceito e dos debates, a prática mundial já nos indica um caminho. A autonomia é importante, mas não é considerada de forma absoluta ou acima da regulamentação nacional.
À luz de outros modelos pelo mundo, Tatiana Nunes, em seu livro “Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte”, estuda como outros países tratam o papel do Estado em relação ao esporte de alto rendimento, e como a autonomia acontece na prática. Podemos citar dois de seus exemplos.
A França dispõe em seus estatutos legais que as federações esportivas exercem um serviço público; e, apesar vários embates sobre o limite do Estado, consegue atualmente navegar entre a responsabilidade do Estado e a autonomia relativa.
E cita alguns exemplos de como temas inerentes ao esporte são tratados pela legislação francesa. Os temas integridade e regulamentação de apostas, por exemplo, são regulados e fiscalizados pelo Estado francês que, após tentativas frustradas de autorregulamentação, mostrou-se insuficiente para solucionar problemas e avançar em boas práticas, sendo necessário a inclusão do Estado. A regulamentação ainda vai além, devido ao fato de que a organização e a administração do esporte realizadas pelas entidades esportivas são consideradas um serviço público, os dirigentes devem se submeter às mesmas regras de transparência patrimonial impostas às altas autoridades públicas.
Percebe-se que o sistema francês optou por uma regulamentação acima do que se observa no Brasil e em alguns países. No entanto, nem por isso, a França foi expulsa do sistema internacional olímpico ou da FIFA.
Nos Estados Unidos, onde o sistema legal e esportivo é completamente diferente de outros países e a autonomia e a separação do estado são princípios consolidados na sociedade americana, tampouco a autonomia das entidades esportivas é absoluta. Um exemplo ilustrativo é a Lei “Title IX” que obriga todas as entidades esportivas (incluindo as universidades) de todas as modalidades, com a paridade de investimentos dos times masculinos e femininos. Além dessa, há outras regulações estatais como legislação antitruste, integridade e antidopagem.
Agrega-se aqui o modelo português que confere às entidades esportivas – chamadas federações esportivas – um certificado de utilidade pública e, somente por meio deste, uma federação pode administrar a modalidade esportiva. Esse atributo é algo concedido pelo Estado e fiscalizado pelo mesmo, o que denota claramente o entendimento sobre o papel do Estado na regulação do esporte nacional português.
Independentemente de se concordar ou não com o modelo adotado em outros países, as citações servem para colocar por terra o argumento que a autonomia absoluta é algo mundialmente seguido aos países filiados às organizações esportivas internacionais.
Esses casos também provam o contrário do argumento amplamente utilizado no Brasil de que a regulamentação ou direcionamento do Estado expeliria o país das organizações internacionais como Comitê Olímpico Internacional ou FIFA, já que os países supracitados e mesmo o Brasil jamais sofreram tal “retaliação”. Ou seja, nenhuma entidade ou setor é absolutamente autônomo em relação ao Estado em que está inserido, tendo que se sujeitar a regras a depender de seu setor
Autonomia é relativa no Brasil
No Brasil, há inúmeros programas de repasse de recursos públicos, incentivo ou parcelamento de dívidas às entidades esportivas. Isso se dá por considerá-las integradas em um sistema que administra o esporte brasileiro. Segundo bem diz Pitágoras Dytz, o esporte foi inserido na ordem social como direito, o que “legitima não apenas o estabelecimento de disposições legislativas com vistas a aprimorar a prática esportiva em quaisquer das manifestações de que trata o art. 3º da Lei nº 9.615, de 1988, participação, educacional, formação ou rendimento, ou níveis (art. 4º da Lei n. 14.597, de 2023) …”.
Outro exemplo da autonomia relativa é a agência nacional de dopagem. Uma agência totalmente estatal e que está inserida no centro do esporte de alto rendimento em tema fundamental para que o esporte siga e cumpra sua finalidade. Nesse caso, sua constituição e natureza jurídica estatal foram apoiadas amplamente pelas entidades esportivas.
Por mais de que esteja claro em nosso ordenamento jurídico e haja evidências internacionais que corroboram para a comprovação da autonomia relativa, diversas ações de inconstitucionalidade foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal, quando da aprovação de leis que dispuseram regras para a administração do esporte.
As decisões ratificaram a legislação e impuseram limites à arguição e a ações de inconstitucionalidade, usando a autonomia como algo absoluto. Alguns argumentos e votos de magistrados como Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso foram na direção da autonomia relativa. Os argumentos versaram sobre o fato de o esporte ser direito do cidadão e, assim, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico ou ainda que a autonomia não se trata de soberania, mas de autodeterminação sujeita aos limites do ordenamento jurídico. Algumas dessas decisões e argumentos podem ser encontrados para consultas como: ADI n. 4.976, n. 3045, n.2937 e n.5440.
O setor esportivo mudou muito nos últimos anos. Especialmente nos esportes olímpicos, já é possível ver a evolução da governança e do aumento da integridade. Além de limite de mandato de dirigentes esportivos, que se estendiam por décadas no poder, houve mudança do sistema eleitoral com a participação dos atletas, que foi fundamental para a renovação de pessoas e de ideias e de práticas. Isso só foi possível por meio da regulação, pois, muitas vezes, a autorregulação não consegue fazer as mudanças estruturais necessárias.
Além disso, o entendimento mundial e prático corrobora esse formato entre parceria do Estado com entidades esportivas, respeitando os limites da não intervenção e uso indevido do esporte pelo Estado – algo que deve ser mantido. Mas não é viável e tampouco realista, não aceitar a peculiaridade das entidades esportivas. A administração de cada modalidade é função única. Não há mais de uma confederação responsável por uma modalidade. Assim, elas não têm um fim em si mesmas, elas administram um bem público e um direito tutelado pelo Estado e, no caso do futebol, um patrimônio nacional que representa o nome do país e usa nossa bandeira e nossas cores. Somente a CBF faz essa administração. Sendo assim, o faz em nome de todos os brasileiros e deve seguir as regras do país como qualquer outra organização esportiva.
é advogada e mestre em Economia, fundadora da Impacta Advocacy e diretora-executiva do Pacto pelo Esporte. É membro independente do Comitê Olímpico do Brasil e membro do Conselho da Fundação Gol de Letra. Foi secretária-adjunta de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional