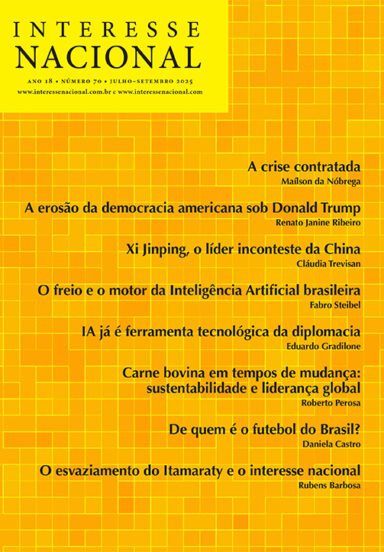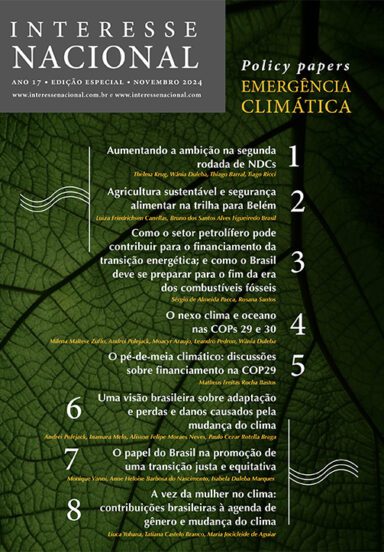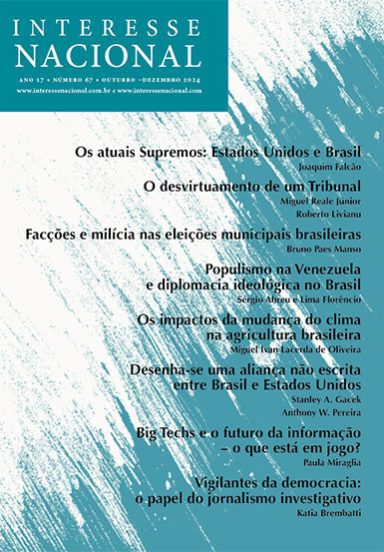Raça e eleições: a importância de incluir mais negros na representação política
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, em agosto, impor regras mais equânimes para a distribuição de recursos de campanha e do tempo de televisão para candidaturas pretas e pardas. A partir de uma provocação da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), o tribunal entendeu que as regras de financiamento aplicadas às candidatas mulheres pelo STF, em 2017, valiam também para as candidaturas negras, embora não tenha criado uma cota como aquela existente desde 2009 para as candidatas. A decisão será válida a partir das eleições de 2022, a menos que uma lei suste ou regule a questão.
A ausência de negros e negras na política brasileira é um fato notório. Basta acompanhar o noticiário cotidiano para perceber que os postos de poder são ocupados por homens brancos, quase sempre de meia idade e oriundos de classes médias e altas. Vale destacar que a ausência de negros e negras reflete não apenas as desigualdades raciais existentes na sociedade, mas também o acesso desigual deles a recursos de campanha, como dinheiro e tempo de televisão. Apenas para se ter uma ideia, nas eleições de 2018, candidatos brancos receberam, em média, 227 mil reais enquanto pardos, 112 mil reais, e pretos, 89 mil reais. Ao que parece, está aí o grande gargalo de um funil que faz com que pretos e pardos sejam mais da metade da população nacional, mas ocupem apenas um quarto da Câmara dos Deputados. Esta desigualdade cresce ainda mais quando observamos os cargos ocupados via eleições majoritárias, como prefeituras, governos estaduais e Senado. Portanto, parece uma injustiça flagrante que metade da população esteja alijada da política formal.
Mas, para além do resultado desses números, fica a questão: por que o Brasil precisa de mais negros e negras na política? A questão está longe de ser simples. O princípio básico das democracias representativas é que a composição da política deveria refletir as escolhas dos eleitores e eleitoras. Estes são vistos como os melhores juízes de seus interesses e valores e, portanto, as características da representação política refletiriam a vontade popular manifestada nas urnas. Ademais, não é forçoso que a inclusão de negros na política leve ao fortalecimento de uma pauta antirracismo, já que nem todo negro está necessariamente comprometido com essa bandeira. Isso fica particularmente claro quando observamos a situação de outro grupo social sub-representado, as mulheres. A ascensão recente de mulheres de extrema-direita ao parlamento mostra que não há qualquer associação forçosa entre perfil social e ação política.
Ainda assim, existem boas razões para defender medidas que incrementem a participação de pretos e pardos nas esferas decisórias, bem como de mulheres. Primeiro, porque a composição da representação política não reflete apenas as preferências dos eleitores, mas também as restrições presentes na própria competição eleitoral. Tradicionalmente, negros têm menos acesso a partidos grandes e fortes no Brasil, o que reduz substantivamente suas chances eleitorais. Ademais, eles têm menor acesso a recursos de campanha e tempo de televisão, sendo menos conhecidos pelos eleitores. Embora tais dados sejam evidências robustas de processos discriminatórios, eles não necessariamente têm a ver com racismo explícito. Na maior parte dos casos, as executivas partidárias têm incentivos para investir em candidaturas vistas com grande potencial de angariar votos e, assim, aumentar o número de cadeiras controladas pela legenda como um todo. Daí certa tendência a investir em políticos que tenham “cara de políticos”, o que quase sempre implica a reprodução de um perfil já predominante. Tudo isso se torna ainda mais importante em um país onde a quantidade de recursos arrecadados é determinante para a quantidade de votos obtidos. Assim, a decisão do TSE não cria privilégios para um grupo específico, mas justamente o oposto. Ela mitiga as desigualdades de competição, aumentando, assim, a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras.
Mas, mesmo em um cenário futuro de competição eleitoral mais equânime, é possível que os eleitores e eleitoras permaneçam escolhendo candidatos brancos, embora as pesquisas disponíveis não detectem vieses raciais por parte desses. Ainda assim, a inclusão de mais negros na política permanecerá importante.
Dar voz aos que vivem a desigualdade e a discriminação
Como já sugerimos, não é forçoso que políticas mulheres, por exemplo, defendam a descriminalização do aborto. Do mesmo modo, nem todo político negro defenderá políticas de ação afirmativa racial. Contudo, a política não pode ser reduzida a um espaço de embate entre interesses e opiniões. Muitas problemáticas que penetram o parlamento suscitam novas questões sobre as quais os políticos eleitos não necessariamente têm opiniões consolidadas. A política não é apenas o espaço de expressão de interesses e valores pré-formados, mas também da deliberação pelo diálogo e da eventual modificação das visões tanto de eleitos quanto de eleitores. Por isso, é relevante incluir nessas deliberações a experiência vivida, porém silenciada, de grupos subalternos. Uma discussão das leis sobre aborto será necessariamente limitada se só contar com as perspectivas de homens sobre a temática. Do mesmo modo, um debate sobre a expansão das ações afirmativas raciais que envolva apenas brancos terá limites patentes, por exemplo. Daí a importância de se considerar as perspectivas e o conhecimento vivido pelos setores das populações mais atingidas, positiva ou negativamente, pela ação estatal que a elas dizem respeito.
Isso não nos deve levar a crer, contudo, que políticas mulheres ou políticas e políticos negros só devam adentrar o parlamento porque possuem um conhecimento vivido importante na deliberação de temáticas de gênero e/ou raciais. É óbvio que essas discussões certamente se beneficiarão mais de suas perspectivas sociais e de suas experiências vividas, mas não somente elas. Vivemos em um país profundamente desigual no qual a parte mais dependente das políticas estatais de saúde, educação, segurança etc. é justamente aquela sem voz política: mulheres, negros e, sobretudo, mulheres negras. Ademais, raça e gênero são clivagens estruturantes da sociedade e do modo como nosso Estado se organizou historicamente. Toda questão política, das medidas econômicas de austeridade a políticas educacionais para jovens, possui dimensões raciais e de gênero. E não basta apenas atentar sempre que possível para essas dimensões estruturantes: é importante considerar aqueles e aquelas que vivem no corpo as desigualdades e as discriminações de gênero e de raça.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional