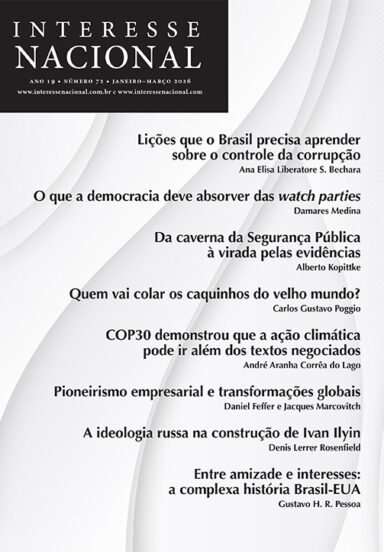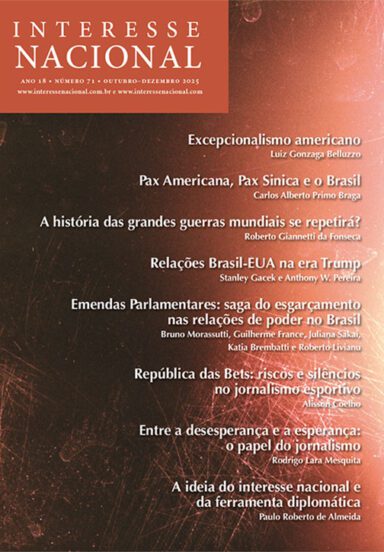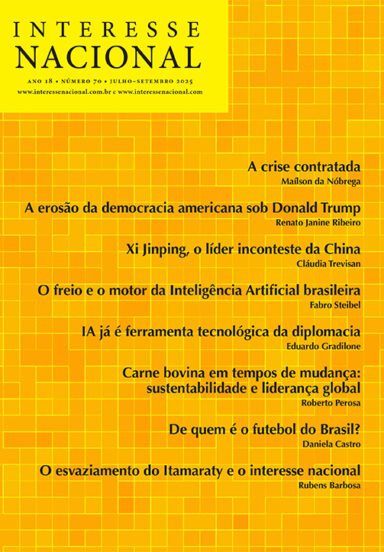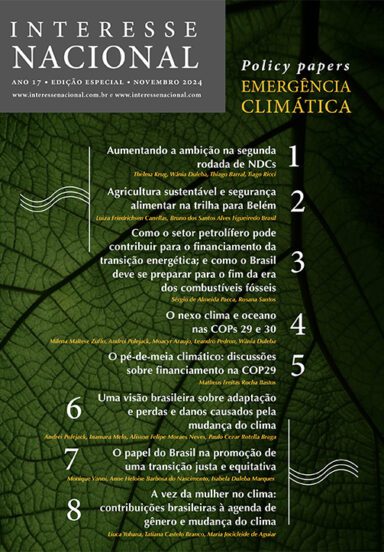A história das grandes guerras mundiais se repetirá?
Quando assistimos, cada dia mais perplexos, ao anúncio quase cotidiano das medidas tarifárias extemporâneas, arbitrárias, casuísticas, adotadas pelo governo Trump contra quase todos os países do mundo – numa retórica isolacionista e nacionalista semelhante à que Adolf Hitler adotou na ascensão do nacional socialismo na Alemanha em 1933 –, é impossível não deixar de observar as semelhanças históricas entre estes dois momentos, do passado e do presente.
Naquela ocasião do início da década de 30, o mundo ainda enfrentava os efeitos recessivos da grave crise da Grande Depressão de 1929, e, num reflexo defensivo, as principais nações europeias adotavam políticas intervencionistas no comércio exterior e na política cambial, procurando de forma artificial e agressiva defender seus mercados e seus empregos a qualquer custo, sem medir as consequências. A política de beggar-thy-neighbor (“empobrece teu vizinho”) dos governos dos anos 30 — usando tarifas alfandegárias a fim de aumentar a competitividade de seus produtos domésticos em relação aos similares importados e assim reduzir os déficits da balança de pagamentos — ocasionou espirais inflacionárias em diversos países europeus, que, por sua vez, resultaram na diminuição da produção, no desemprego em massa e no declínio generalizado do comércio mundial.
À luz da história, hoje não temos dúvida em afirmar que as causas identificadas na raiz das duas guerras mundiais no século XX estavam diretamente relacionadas à generalizada discriminação econômica e às resultantes disputas comerciais entre as potências econômicas à época. Ocorreram nos anos 30 inúmeros acordos bilaterais de controle de comércio e mais especificamente um crescente conflito entre o sistema de trocas comerciais da Alemanha Nazi e o sistema de preferência imperial praticado pelo Reino Unido (pelo qual seus membros ou antigas colônias do Império Britânico eram beneficiados entre si por um status comercial especial). O resultado hoje em dia já sabemos qual foi: a concentração de poder em um pequeno número de Estados e a presença de uma potência dominante, querendo (e supostamente capaz de) assumir um papel de liderança, que resultou na catastrófica Segunda Guerra Mundial.
Semelhança com períodos de pré-guerra
Vejamos o que decorre do desfecho da II Grande Guerra: os países aliados vencedores percebem a imperativa necessidade de reorganizar a economia mundial através de um acordo que criou um sistema multilateral de comércio e de finanças, que ganhou o nome de Acordo de Bretton Woods, o nome da localidade em que o evento foi realizado, no estado norte-americano de New Hampshire, onde a Conferência dos Países Aliados criou a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e ainda semeou as raízes para inúmeras outras instituições de caráter multilateral como a Organização Mundial do Comércio (inicialmente GAAT e depois OMC a partir de 1995), UNESCO e UNCTAD, as quais moldaram as relações internacionais num contexto multilateral na segunda metade do século XX. Não temos dúvida em afirmar que foi toda esta estrutura de concerto multilateral entre as nações que permitiu a relativa paz e o enorme progresso econômico mundial obtido nas últimas décadas, mas que enfrenta agora um risco de iminente extinção e de grave retrocesso.
Quando, em 2001, em relatório do Goldman Sachs, assinado pelo então economista-chefe do banco Jim O’Neill com o título de Building Better Global Economic – BRICs (Formando Melhores Tijolos para a Economia Mundial), surgiu termo acrônimo BRIC, concebido sem muita pretensão ou ambição na sua origem. No relatório, O’Neill apontava que os quatro países emergentes do grupo original (Brasil, Rússia, Índia e China) possuíam características socioeconômicas comuns e possuíam enorme potencial para investimentoe crescimento nos anos futuros. O termo ganhou popularidade e, em 2009, o grupo foi criado oficialmente durante a primeira cúpula que aconteceu na Rússia. À época, somente os quatro países mencionados no relatório de O’Neill enviaram seus chanceleres à reunião. Já no terceiro encontro da coalizão, em 2011, a África do Sul passou a fazer parte. O objetivo consensual da criação do BRICS, em 2009, foi o de coordenar as posições dos países membros na tarefa de reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI). Era uma resposta aos efeitos da crise financeira de 2008 e seus eventuais impactos nos países emergentes.
O fato é que a partir de 2010 o grupamento informal dos países BRICS ganhou uma dimensão geopolítica extraordinária, especialmente diante de seu contingente populacional que agrega mais de 50% da atual população mundial, como também pelo exponencial crescimento das economias chinesa e indiana ao longo dos últimos 20 anos. No mesmo período, assistimos ao declínio da economia americana e europeia e ao crescimento do protecionismo tarifário e não tarifário dos países desenvolvidos. Especialmente os EUA enfrentam, desde os anos 90, déficits comerciais crescentes com seus principais parceiros comerciais, a China e a União Europeia, o que, conjugados com um déficit fiscal crônico, põem em risco sustentabilidade e solvência da maior economia mundial desde meados do século XX. A dívida pública americana atinge em 2025 a astronômica cifra de US$ 36 trilhões, acima de 100% do valor de seu PIB. Este cenário desafiador levou ao surgimento de um movimento populista e nacionalista que teve, até o momento, seu ápice com a reeleição do presidente Donald Trump em 2024.
O embate geopolítico vem se agravando e ganhando moldura surpreendente: de um lado, os EUA adotando uma atitude insular, expulsando imigrantes, impondo de forma unilateral tarifas de importação arbitrárias, fazendo ameaças a países dos BRICS, e rejeitando, de maneira formal, o papel das instituições multilaterais do Acordo de Bretton Woods. De outro lado, os países dos BRICS, liderados pela China, buscam recriar nova ordem econômica mundial através da reforma das instituições multilaterais (talvez seja hora de um novo Acordo Bretton Woods 2.0) e desafiando a predominância e o uso do dólar como moeda de reserva e de transações internacionais.
País no epicentro da tensão mundial
Neste contexto global, exacerbado pela polarização geopolítica, o Brasil é posto, involuntariamente, no epicentro da tensão entre os dois blocos por conta de seus problemas políticos internos, que advêm da tentativa de golpe militar, ocorrido em 8 de janeiro de 2023, e o processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que culminou com sua recente condenação à prisão em regime fechado, juntamente com outros sete integrantes de sua equipe, inclusive militares de alta patente. Para não cairmos na armadilha de retóricas provocativas, tornou-se imprescindível uma atitude firme de defesa de nossa soberania, mas, ao mesmo tempo, de cautela e discrição nas nossas reações.
O desafio atual é complexo, pois trata-se de ser coerente e perseverante com a missão dos países BRICS no objetivo de buscar a reformulação do sistema multilateral de comércio e de finanças e, ao mesmo tempo, preservar o bom e histórico relacionamento econômico e diplomático com os EUA e demais países do Ocidente. Não se trata de neutralidade ou ambiguidade, mas sim de uma visão pragmática e lúcida de ampliar o diálogo entre os blocos divergentes.
Neste contexto, discute-se intensamente qual seria a estratégia de negociação com o governo americano para se evitar que o denominado tarifaço de 50% de alíquota de importação prevaleça por longo prazo sobre inúmeros produtos brasileiros, prejudicando empresas e setores relevantes da economia nacional, com o consequente desemprego em massa nas exportadoras. Há muita divergência sobre este tema, seja na vertente jurídica que busca a nulidade dos atos executivos da Casa Branca, seja na vertente negocial, que busca responder com o diálogo bilateral uma solução consensual de acordo entre os dois países.
Mas, uma coisa é certa, se não tivermos poder de barganha na mesa de negociação, não conseguiremos evoluir de forma favorável nestas negociações. Logicamente, os temas políticos e de natureza ideológica que interferem em assuntos internos e com a soberania brasileira deveriam ser de pronto afastados, pois são intrinsicamente inegociáveis, na forma que os americanos gostam de se expressar: um eloquente non starter. Por outro lado, na pauta objetiva de temas comerciais e econômicos, que é o que interessa, temos de fato cardápio amplo, valioso e atrativo que beneficia reciprocamente os dois países e sobre o qual deveríamos nos debruçar com intensidade técnica para produzir um resultado tangível e satisfatório para justificar a redução das injustificadas tarifas punitivas sobre os produtos brasileiros importados para o mercado americano. Quais seriam, a princípio, as medidas que poderíamos relacionar neste deal making com o governo Trump?
Entre outras, sugeriria iniciarmos aqui com o tema que me parece mais relevante, estratégico e urgente: os famosos minerais críticos, entre os quais inserem-se as denominadas “terras raras” (especialmente o neodímio, que serve para fabricação de eletroímãs) – o nióbio, o titânio, o estanho (usado intensivamente como solda elétrica nos circuitos impressos de todos os produtos eletrônicos), o tungstênio (utilizado na indústria aeroespacial, indústria bélica, sondas de petróleo etc.). Todos estes minérios, com exceção do nióbio, têm uma característica comum: são abundantes no Brasil e na China.
A China, como detentora de amplas reservas minerais destes elementos e de tecnologias avançadas de processamento e de refino dos metais críticos de toda uma cadeia produtiva de produtos de valor agregado destes materiais, procura restringir as exportações dos minerais críticos, através de quotas quantitativas, ou mesmo de banimento de suprimento externo. Isto gera clima tenso no contexto geopolítico, pois afeta a segurança de indústrias estratégicas do Ocidente e dá à China um privilégio competitivo e negocial de alta relevância econômica e militar.
A hora dos metais críticos made in Brazil
Por que o Brasil ainda não aparece como um concorrente relevante neste segmento dos minerais críticos? A razão é simples de entender: apesar de possuirmos reservas valiosas do ponto de vista geológico, toda vez que anunciamos investimento no desenvolvimento de jazidas, ocorre súbita queda nos preços destes metais, causando incerteza e insegurança aos investidores sobre a viabilidade financeira do projeto. Esta queda de preços obviamente tem como causa a sobreoferta momentânea do metal específico, causando um dumping no mercado internacional, e, desta forma, inibindo o surgimento de concorrentes fora da China.
Por anos, Brasil e EUA discutiram discretamente como investimentos e ajuda americana poderiam apoiar o país a explorar essas vastas reservas de terras raras e minerais críticos, uma das maiores do mundo. Mas agora, a crise diplomática aberta entre as duas maiores nações do continente americano ameaça acabar com anos de esforços dos EUA para ter acesso aos minerais críticos brasileiros. Ao concorrer com a China em minerais estratégicos cruciais para a economia mundial, ambas as nações teriam a ganhar com tal aliança, seja em resultados econômicos relevantes, seja em segurança estratégica e comercial dos países do Ocidente no futuro próximo.
O apoio financeiro e tecnológico americano poderia promover a lavra e o processamento dos minerais críticos no Brasil, e, por outro lado, o suprimento brasileiro poderia garantir uma oferta confiável e segura, reduzindo a dependência americana do instável fornecimento da China, que controla cerca de 90% do fornecimento mundial e já demonstrou disposição para retê-los em várias ocasiões de tensão geopolítica no passado recente. As conversas sobre essa aliança, que não haviam sido relatadas anteriormente, estavam em estágio inicial. Porém, os minerais críticos foram subitamente priorizados no diálogo aberto entre os dois países que eclodiu no mês passado. Portanto, como poderíamos evoluir neste ambicioso programa bilateral de minerais críticos?
Em primeiro lugar, devemos destacar que já está em curso no Congresso Nacional um marco regulatório dos minerais críticos e estratégicos, o Projeto de Lei – PL 2780/24, que propõe criar uma política nacional para esses minerais e, assim, ampliar a segurança jurídica e regulatória do setor de mineração brasileira. Neste PL, deveríamos destacar a necessidade imperativa de se estabelecer um regime de fast track para os processos de licenciamento mineral junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) e de licenciamento ambiental, ao IBAMA ou Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, de forma a agilizar a viabilização destes projetos minerais. Torna-se necessário também estabelecer contrato de suprimento de longo prazo entre o produtor exportador brasileiro e o importador consumidor americano – contratos conhecidos no setor como Offtake Agreements, no qual volumes anuais mínimos e preços fixos ou variáveis aceitáveis assegurem ambas as partes nos seus objetivos estratégicos e que garantam, ao mesmo tempo, a viabilidade econômica e operacional do empreendimento mineral.
Na legislação brasileira não há qualquer obstáculo ao investimento estrangeiro na atividade de extração mineral, salvo em áreas de fronteira. Portanto, o investimento direto de empresas americanas, seja isoladamente ou em associação com investidores brasileiros, torna-se desejável e factível. Cabe, ainda, destacar que, nos últimos dois anos, inúmeros empreendimentos minerais no Brasil foram adquiridos por empresas chinesas, o que adiciona elemento de atenção neste contexto geopolítico, do qual somos simultaneamente palco e atores.
Teríamos muitos outros tópicos para adicionarmos no cardápio de negociações recíprocas para torná-lo atrativo, com vistas a destravar a redução das tarifas alfandegárias sobre os produtos brasileiros para o mercado norte-americano. Entre outros, poderíamos destacar a questão locacional de data centers no território brasileiro, com suprimento de energia renovável competitiva, abundante e segura, muitas vezes em regime de offgrid; o Acordo de Não Bitributação, benéfico para as empresas brasileiras nos EUA e empresas americanas no Brasil; e ainda um programa conjunto de colaboração (ao invés de competição e confrontação) entre produtores de etanol dos dois países, com objetivo de expansão do mercado de etanol combustível e de produção conjunta do Sustainable Aviation Fuel a partir do etanol de segunda geração e de baixo carbono. Isto, no contexto da COP30, seria um gol de placa.
Neste momento da história da humanidade, deveríamos refletir e agir com pragmatismo e inteligência emocional, evitando acirramento de animosidades e confrontações, buscando o diálogo construtivo, racional e ações reciprocamente benéficas, pois, em última instância, estaríamos assegurando paz e prosperidade que deveriam ser, de forma permanente, os objetivos coletivos a nível global de uma humanidade que, diante de tantos progressos materiais e tecnológicos, ainda corre o risco de repetir erros cometidos no passado que causaram tantos prejuízos a todos ao redor do mundo. Diálogo, perseverança e equilíbrio devem ser as palavras de ordem nesta quadra da nossa história. n
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional