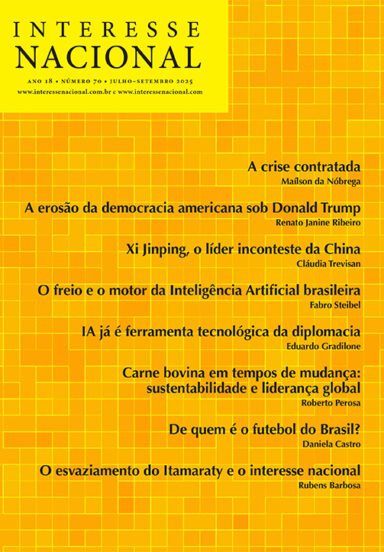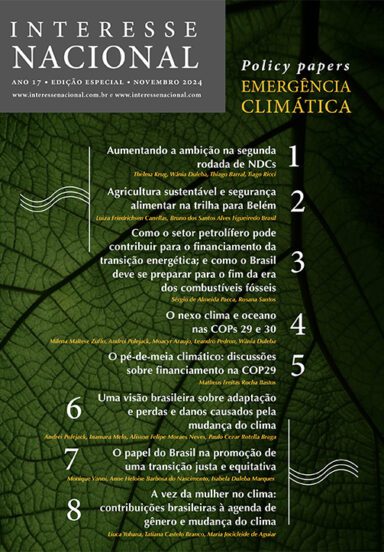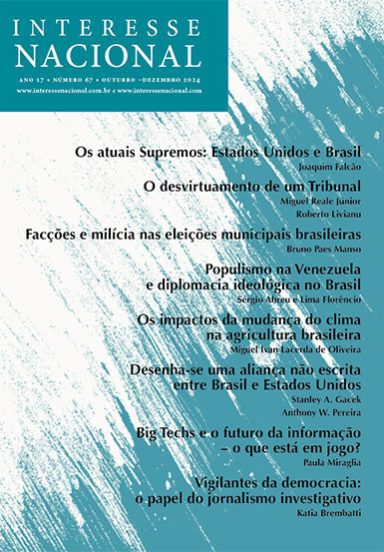Como reconstruir o Brasil para as novas gerações?
O Brasil tem tido problemas para crescer de forma sustentada há décadas. Isso foi agravado pela pandemia e pelo descaso do governo atual em áreas essenciais para o crescimento da produtividade, como a educação. A última vez que o Brasil cresceu de forma sustentada foi nos anos 60 e 70, quando houve a parte final da migração do campo para as cidades, que tirou a maior parte da população de atividades de subsistência pouco produtivas e colocou-as nas cidades para trabalharem na indústria e nos serviços. Entretanto, desde então, a produtividade tem crescido muito pouco nestes setores e, portanto, no País como um todo.
A estratégia de proteger a indústria através de políticas industriais, proteção comercial e subsídios para a inovação não deu certo. Enquanto em outros países a política industrial tinha metas para exportação e era conjugada com avanço educacional, por aqui esquecemos da educação e preferimos fechar o País para o comércio. Assim, a maior parte das nossas empresas usa técnicas gerenciais ultrapassadas e não inovam. Colocamos milhões de reais em programas de incentivos à inovação com poucos resultados práticos, como mostram diversas avaliações de impacto.
Além disso, a proteção comercial faz com que os insumos internacionais fiquem mais caros. Vários estudos mostram que o acesso a insumos mais sofisticados e baratos é um dos principais determinantes do crescimento da produtividade. O atraso histórico da indústria brasileira tornou-a muito pouco competitiva internacionalmente. Como consequência, a liberalização comercial dos anos 90, se por um lado fez com que a produtividade das firmas brasileiras aumentasse via importação de insumos, por outro levou à demissão de milhares de trabalhadores, já que elas não tinham como competir com os demais países. Esses trabalhadores tiveram que ir para a informalidade ou para serviços pouco qualificados.
Ao mesmo tempo que os incentivos à indústria predominavam, a área social não tinha nenhuma atenção. Até os anos 70, a mortalidade infantil era altíssima, com 120 crianças morrendo no primeiro ano de vida para cada 1000 que nasciam. Não existia atendimento hospitalar para os mais pobres e apenas 5% da população adulta tinha ensino médio. Predominava no Brasil a ideia de que investir em capital humano era desnecessário, pois o crescimento econômico liderado pela indústria aumentaria a renda de todos. Isso diminuiu a flexibilidade e a adaptabilidade dos trabalhadores, de forma que a liberalização comercial provocou diminuição de salários, aumentos da criminalidade e da religiosidade, com grande crescimento das igrejas evangélicas nas áreas mais afetadas.
Mas, a partir dos anos 80, o Brasil progrediu bastante na área social, especialmente depois da constituição de 1988. Hoje em dia, temos o SUS e apenas dez crianças morrem no primeiro ano de vida a cada 1000 nascidas. A esperança de vida ao nascer, que era de apenas 45 anos no Nordeste em 1960, agora atinge 72 anos. Em 1992, apenas 25% dos jovens tinham ensino médio ou superior, ao passo que hoje em dia isso acontece com 70% deles. A renda per capita também aumentou bastante, especialmente a partir dos anos 2000, passando de R$800 para R$1.500. Por fim, a pobreza e a desigualdade também diminuíram bastante.
Houve grande aumento de recursos públicos para educação, saúde e aposentadorias. Mas, a dificuldade de financiar esses gastos também era crescente, justamente porque a produtividade aumentava pouco. Com o fim do boom de commodities e os erros de política econômica cometidos pelo governo Dilma, veio a crise a partir de 2014. E, em cima dessa situação já precária, veio a pandemia, que está tendo efeitos dramáticos na educação, saúde, desenvolvimento infantil e mercado de trabalho.
Queda severa na oferta de emprego
A pandemia afetou o mercado de trabalho em vários países do mundo, mas a queda no emprego foi especialmente severa no Brasil. Enquanto a atividade econômica já voltou aos níveis de antes da pandemia, a taxa de desemprego continua bastante alta por aqui, assim como o número de pessoas que desistiu de procurar emprego. E os trabalhadores menos qualificados são os que estão sofrendo mais os efeitos da pandemia. Com o agravamento da pandemia, o emprego despencou entre os menos qualificados da indústria, comércio e serviços, com cerca de 20% dos trabalhadores perdendo seu emprego. Já entre os trabalhadores com ensino médio completo ou superior, a queda foi de 7% no comércio e apenas 3% na indústria e serviços. Desde então, o emprego tem reagido, mas enquanto os mais qualificados já atingiram o nível de emprego do início de 2019, os menos escolarizados permanecem cerca de 15% abaixo do nível de antes da pandemia. A situação é especialmente grave entre os mais jovens que não completaram o ensino médio. Por que isso ocorreu?
Junto com o isolamento social, a pandemia provocou alterações na forma de trabalho e nos padrões de consumo. Quase 13% dos trabalhadores qualificados continuavam trabalhando de casa no final do ano passado, com poucas alterações nesta taxa ao longo da pandemia. Por outro lado, menos que 1% dos trabalhadores menos qualificados adotou o home-office, pois trabalham em ocupações que não permitem o teletrabalho. E há evidências de que grande parte dos trabalhadores com maiores salários não voltará mais ao trabalho presencial, mesmo após o fim da pandemia.
Devido à alta concentração de renda no Brasil, os padrões de consumo da parcela mais rica da população têm muito impacto na geração de empregos dos menos qualificados. Os 10% mais ricos concentram cerca de 1/3 do consumo total no Brasil. Assim, mudanças de comportamento e no padrão de consumo dessa classe têm efeitos multiplicadores no emprego bem maiores do que mudanças nas classes média e baixa. Por exemplo, se as pessoas com maiores rendimentos permanecerem mesmo trabalhando de casa após a pandemia, deixarem de frequentar restaurantes em dias úteis e passarem a comprar comida e outros produtos pela internet, a recuperação dos empregos menos qualificados pode demorar muito para ocorrer, pois este tipo de compra não exige a presença de vendedores e garçons. Desta forma, os trabalhadores menos qualificados são duplamente afetados: por não poderem teletrabalhar e por estarem em ocupações que dependem muito do consumo presencial dos mais ricos.
O drama da desigualdade escolar
No caso da educação, a maior parte das crianças pobres aprendeu muito pouco nos últimos meses. Isso provocará um grande aumento da desigualdade educacional nos próximos anos, com reflexos sobre a desigualdade no mercado de trabalho. E entre os jovens de 18 a 24 anos de idade, que somam cerca de 20 milhões de pessoas, 4 milhões (20%) não concluíram o ensino médio e já saíram da escola e 2 milhões ainda estão tentando terminar esse ciclo. Dentre os 14 milhões que terminaram o ensino médio, 5 milhões estão cursando uma faculdade, ao passo que 9 milhões (45% do total de jovens) não estão estudando mais.
Além disso, metade dos jovens que terminou o ensino médio e não está mais estudando também não está trabalhando, também por conta dos efeitos da pandemia. Ou seja, temos um contingente de mais de 4 milhões e meio de jovens “nem-nem”, dos quais 60% são mulheres. Assim, uma parte significativa dos nossos jovens não têm o que fazer com o diploma do ensino médio. A falta de perspectivas sobre o que fazer com o diploma está provocando uma forte desaceleração no avanço educacional. As matrículas no ensino médio já pararam de crescer há algum tempo. O número de participantes no Enem aumentou até 2016, mas desde então começou a diminuir, passando de 1,2 milhão de alunos em 2016 para 1 milhão em 2019. Dados preliminares (número total de inscritos) indicam que a pandemia acentuou essa queda em 2020 e 2021. Esse declínio é muito preocupante, especialmente porque os maiores salários estão nos empregos com ensino superior, que atualmente pagam em média R$4.500, contra apenas R$1.700 entre os ocupados com ensino médio.
Finalmente, com relação ao desenvolvimento infantil, vários estudos mostram que períodos de grande estresse emocional entre os pais provocam redução do peso ao nascer, declínio no desempenho escolar e problemas psicológicos na juventude. Se nada for feito, haverá necessidade de aumentar muito os gastos sociais no futuro para remediar esses problemas.
Assim, após a pandemia teremos que reconstruir o Brasil para as novas gerações. Devemos aproveitar os acertos e corrigir os erros cometidos nas últimas décadas. É crucial ter políticas ativas para reduzir a desigualdade de oportunidades desde a primeira infância. A questão distributiva tem que ocupar posição de destaque. Será necessário abrir mais a economia de forma planejada para incentivar a concorrência e aumentar a produtividade das nossas empresas, melhorar a gestão educacional e aumentar o número de horas-aula nas escolas públicas para recuperar o tempo perdido com a pandemia. Precisaremos de uma reforma tributária decente, que seja progressiva, horizontal e que diminua as distorções existentes. O Brasil evoluiu em muitos aspectos sociais nos últimos 40 anos, mas teremos que corrigir nossos erros para conseguirmos crescer novamente.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional