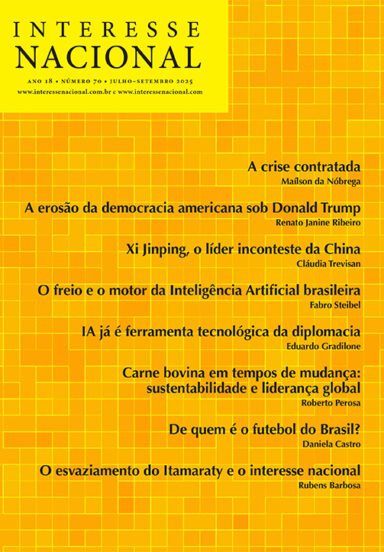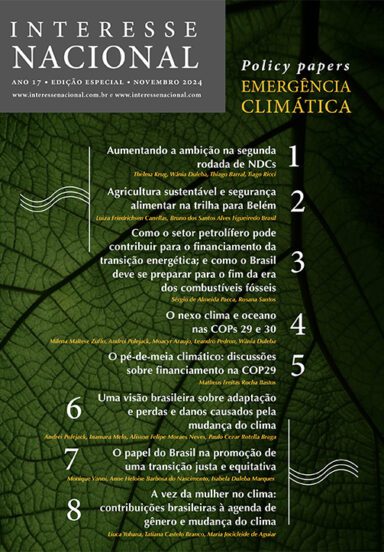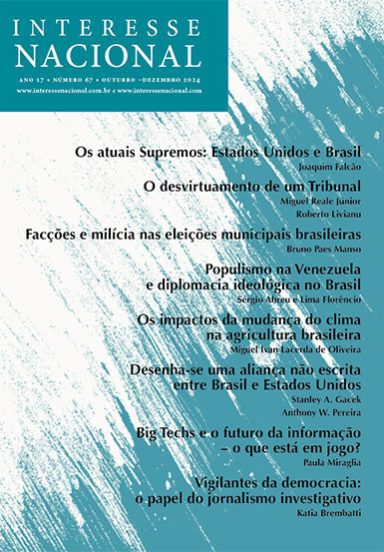Covid-19: um susto na escola
Na noite de 14 de abril de 1912, naufragou o “inafundável” Titanic, causando a morte de 1.514 pessoas. Apesar de trágico, trouxe alguns benefícios significativos. Não há mais navios cujos barcos salva-vidas apenas cheguem para um terço dos que embarcaram. Os treinamentos foram aperfeiçoados. A engenharia naval foi sacudida, e a legislação marítima foi reescrita.
Todavia, o maior e mais inesperado impacto foi na instalação de aparelhos de telégrafo sem fio nos navios. Marconi desenvolveu um equipamento viável. Porém, a sua venda era morosa. Como o Titanic estava equipado com ele, bem como um navio que passava perto, foi possível salvar 710 náufragos. Para a empresa de Marconi, o Titanic vendeu mais telégrafos do que um mago da publicidade faria.
Esse exemplo e muitos outros ilustram que grandes catástrofes podem ter o seu lado positivo. Guerras são um bom exemplo. Acidentes aeronáuticos provocam modificações nos projetos. Não se trata de minimizar o dano, mas de capitalizar em eventuais ganhos. Esse é o mote do presente ensaio sobre o impacto da Covid-19 na educação.
Em outros campos, a pandemia trouxe também avanços. A telemedicina estava proibida, mas logo foi liberada. Comprar pela internet veio para ficar. O home office foi um ganho irreversível. O que talvez acontecesse em dez anos, em alguns casos, tomou dez dias.
De inúmeras maneiras, as tragédias podem quebrar resistências, criar pressões formidáveis ou mudar o equilíbrio de forças políticas. O que era impossível, torna-se fait accompli. E é isso que vamos ver na educação, o balanço da tragédia educacional.
Há abundante evidência de que nossa educação é muito fraca. O Pisa e a Prova Brasil não deixam dúvidas. Porém, a pandemia deu o golpe de misericórdia. O que era ruim, ficou pior.
Alguns dados iniciais sugerem que 2020 foi péssimo para a educação. Dentre os professores, 83% se consideravam despreparados para lidar com a tecnologia. O tempo de aula caiu para de 1,80 a 2,04 horas, comparado com as quatro horas tradicionais. Com relação a um ano típico, houve 73% a menos de aprendizado. Devastador! Mas a evasão trouxe danos ainda mais sérios. E tudo indica que as diferenças de aprendizado entre escolas de boa estirpe e outras mais frágeis tenham aumentado.
Mas, que fique claro, não temos ainda medidas precisas da catástrofe. Ainda assim, cenários plausíveis mostram um quadro lastimável
O aumento da desigualdade
Muitos pensam ser a sala de aula que conhecemos uma fórmula que se
repete ao longo da história: alunos nas suas carteiras e professor à frente, ensinando a lição.
Mas esta aula apenas aparece no Medieval Tardio, quando são criadas na Europa as primeiras universidades. Passam-se muitos anos, antes que seja adotada nos níveis mais baixos de ensino.
Por tudo que se sabe, a educação era muito ruim. Mas ao longo de 800 anos, houve um avanço no conhecimento de como tirar partido desta sala de aula.
Na prática, quanto mais inadequada for a escola, os professores e os métodos, mais penalizados são os alunos fracos. Aprendem os mais bem preparados, inteligentes, motivados ou com boa influência familiar. Os outros ficam para trás. Em outras palavras, a fragilidade da escola fomenta a desigualdade.
Todavia, com o passar do tempo, a escola evolui. Com a experiência, reduz-se a distância entre os menos e os mais favorecidos. A Europa teve 800 anos para aprender. No Brasil, onde os primeiros sistemas educacionais são de 150 anos atrás, os resultados são, previsivelmente, inferiores.
Desaba a Covid-19! Improvisadamente, cancelam-se as aulas presenciais. É um salve-se quem puder, às carreiras, batendo cabeça.
Em poucas semanas, foi preciso inventar e implantar um novo sistema.
O inevitável acontece, a desigualdade aumenta. Os alunos mais fracos são severamente penalizados. É como se voltássemos para um passado remoto em que as escolas tateavam, tropeçavam e falhavam na sua missão.
Essa exacerbação da desigualdade era mais do que previsível e inevitável. Não resulta de conspiração ou descaso.
A barreira tecnológica
Dada a precariedade das nossas escolas e a relativa pobreza da maioria dos alunos, é inevitável que mudar tudo para a internet, do dia para a noite, ia por a descoberto as falhas clamorosas do parque tecnológico de escolas e alunos. E assim foi.
Os computadores são lentos, se existem. Muitos alunos não os têm ou devem compartilhá-los com os irmãos. As redes são precárias. É tudo verdade, e os números estão aí para demonstrar.
Mas, atenção, a tecnologia virou um bode expiatório.
Segundo pesquisa recente, 97% dos alunos do ensino médio têm acesso, pelo menos, a um smartphone. E como indicam pesquisas anteriores, gostam mais de ler nos telefones do que nos monitores. Sendo assim, a situação não é tão trágica como pintada.
Aliás, por que pensar apenas em tecnologias digitais? Muitos anos atrás, o presente autor fez, com todo sucesso, um curso de radiotécnica. E tudo pelo correio. Por que desdenhar esse método provecto, porém ainda eficaz?
Parece razoável concluir que as deficiências do lado técnico foram e são graves. Não obstante, apesar desta penúria, os principais obstáculos residem alhures, como tentaremos demonstrar adiante.
EAD versus Ensino Remoto Emergencial
Lord Wilson of Perry recebeu do governo britânico a missão de criar a Open University. Devia oferecer excelência e acesso fácil.
Mas suas propostas de cooperação com Oxford e Cambridge foram rechaçadas de forma contundente. Delas ouviu que, mercê de sua reputação de muitos séculos, não seriam coniventes com iniciativas pouco sérias.
Esse exemplo ilustra o preconceito ubíquo contra o ensino a distância (EAD). Não nasceu hoje e sobrevive teimosamente. É um prêmio de consolação para quem não pode ter coisa melhor.
Porém, o mundo real não corresponde a tais lendas. A partir de meados do século XIX, o ensino por correspondência começa a se expandir. E como se podia prever, os praticantes do EAD aprendem com a experiência. Foram desenvolvendo suas técnicas, seus métodos e suas maneiras de lidar com a ausência física dos alunos.
Adiante, mostraremos a natureza dos avanços. De momento, ficamos com as medidas de seus resultados. Duas ilustrações bastam.
Uma meta-pesquisa internacional comparou o nível de aprendizado de alunos presenciais e a distância, quando as condições de ambos os lados eram equivalentes. Surpresa! Em média, os alunos de EAD e presencial têm aprendizado equivalente.
Mais perto de nós, o Enade aplica a mesma prova para os alunos de EAD e presenciais. Como se viu, não há qualquer vantagem para os do presencial.
Esses dois exemplos atestam o grande avanço nos cursos a distância. Compensar a ausência física foi o maior desafio.
Não obstante, ao ser privada da alternativa presencial, a escola acadêmica não buscou aprender com a experiência do EAD. Pelo contrário, improvisou. Pior, apenas transferiu para o ensino a distância as práticas do presencial, fossem elas adequadas ou não.
Esse arremedo de última hora tem sido chamado de Ensino Remoto Emergencial. Aliás, é boa ideia ter nome diferente, pois é outra coisa.
Previsivelmente, os resultados do remoto deixam a desejar, seja em termos de presença, participação ou aprendizado. Repetindo, voltou-se para trás o relógio. É como se os alunos de hoje estivessem frequentando uma escola do passado, com muito ainda a evoluir. A escola mergulhou na idade das trevas ao ter que operar via internet. Isso, apesar de o velho EAD já haver vencido os mesmos desafios.
Por que muros intransponíveis impediram o aprendizado?
Uma causa óbvia e inevitável foi a correria, a implantação atabalhoada, sem tempo para refletir e buscar soluções fora de casa. Outra causa é a pura ignorância do que se faz no verdadeiro EAD. Uma terceira vertente é que, pelo menos em parte, esse alheamento é fruto do tradicional preconceito da escola presencial contra o EAD.
Uma implementação atabalhoada
Mesmo nos países com ensino de qualidade, houve dúvidas, perplexidades e muitos erros. No nosso país, bem pobrezinho no seu ensino, a confusão foi geral e em todos os níveis.
Quem melhor do que o MEC para liderar, mobilizar as melhores cabeças, reunir e avaliar os materiais didáticos existentes, identificar as boas práticas e disseminar as soluções exitosas?
Infelizmente, já antes da pandemia, o MEC estava mergulhado em crises internas e enfrentava batalhas ideológicas furibundas com a sociedade – de resto, totalmente divorciadas da educação. Sendo assim, foi o grande ausente.
O Instituto Unibanco tentou ajudar, tanto quanto era possível. O mesmo com a Fundação Estudar. Não temos ainda elementos para avaliar o impacto de suas ações.
Sistemas estaduais maduros e com boa competência técnica, como o de São Paulo, têm um repertório de soluções, muito mais sólido e sofisticado do que outros, cujas secretarias são cronicamente frágeis. O mesmo com os municípios. Associações de secretários estaduais e municipais trataram de cooperar entre si. Mas ainda não conhecemos a efetividade destes esforços.
Não há um bom mapeamento dos caminhos trilhados. Ao que parece, a solução preferida foi usar a tecnologia digital para reproduzir, via internet, a mesma aula presencial. Daí o nome «ensino remoto». Em alguns casos, as aulas são ao vivo. Em outros, gravadas e reproduzidas. É a mesma diferença entre ensino “síncrono” e «assíncrono». O primeiro tende a ser mais personalizado e, portanto, superior. Todavia, é mais caro. Seja como for, é o mesmo ensino presencial transladado para o Zoom (ou seus similares). É dito «emergencial», para corretamente informar que foi fruto do Deus nos acuda da implementação.
A ideia não é sem sentido. Se podemos dar a distância a mesma aula, por que não? Na graduação pode funcionar. Mas, no ensino básico, as fragilidades desta fórmula são mais graves.
Se a sala de aula já era pouco atraente para os alunos, a sua versão remota reduz ainda mais a motivação. Se tudo já era chato, estratosférico e sem aparente utilidade, na telinha do Zoom é pior ainda.
Na sala de aula, o professor pode cobrar a atenção e promover alguma participação. No remoto, é muito mais fácil ausentar-se intelectualmente ou mesmo “matar aula”. Em grande medida, foi isso que aconteceu.
A consequência principal disso tudo é que se materializou o previsível: aumentou a desigualdade. As boas escolas rapidamente migraram para o digital e levaram para lá seus melhores hábitos pedagógicos.
Já os alunos mais fracos, quase sempre em escolas precárias, ficam entediados, não conseguem prestar atenção e aprendem bem menos. E, portanto, evadem-se em maior proporção.
No fundo, aula chata no presencial vira uma aula bem mais chata no monitor. Os professores não conhecem as técnicas de promover maior interação, não conseguem mostrar aplicações e por aí afora. A evasão resulta também de que, para muitos, a escola é a hora de ver os amigos, o que não pode acontecer no remoto.
As lições que o EAD poderia haver ensinado
O ensino a distância já nasce ameaçado pelo belzebu da evasão. Sendo assim, gastou século e meio aprendendo a evitá-la. Na correria, o remoto ignorou a experiência acumulada pelo EAD. Se já era pouco o contato personalizado com alunos no presencial, no remoto, agrava-se o problema.
Mas, por ser a distância, é maior a necessidade de se aproximar dos alunos. No velho ensino por correspondência, os instrutores escreviam bilhetes e recados nas folhas de exercícios.
Do ponto de vista da pedagogia, o primeiro segredo do EAD é a preparação de materiais de ensino de qualidade e atraentes. O segundo é usar folhetos curtos em vez de livros gigantescos que traumatizam os alunos. Os temas são breves o suficiente para evitar a saturação cognitiva. Terceiro, o ensino é altamente estruturado e passo a passo. Quarto, ao contrário do ensino presencial, abundam exercícios e aplicações. E como se sabe, se não se aplica não se aprende. Esses pecados o ensino remoto herdou do presencial.
No bom EAD, as aulas televisivas são de 15 minutos. Segundo as pesquisas, esse é o limite da atenção dos alunos. O tempo restante – para cobrir a carga horária – é de aplicações e de interação entre alunos e professor. Já no remoto, repete-se a mesma aula expositiva de 45 minutos.
A ruindade do remoto é herdada do presencial
Podemos pensar, há uma pedagogia do presencial, uma pedagogia do remoto, uma da EAD clássica e, agora, teríamos a do híbrido. Tolo engano. Isso até pode oferecer boas desculpas para o fracasso, mas não é assim.
As teorias cognitivas que inspiram as práticas de sala de aula são, rigorosamente, as mesmas. Quem seguir esta cartilha, não tem como errar.
Para ilustrar, compactamos abaixo as grandes linhas do bom ensino.
- Aprende-se repetindo, repetindo, repetindo. Não há atalhos
- No ensino ativo – uma alternativa superior – o esforço de aprender cai sobre o aluno. Ele tem que ativamente buscar uma compreensão profunda.
- Sem aplicar não se aprende
- É preciso fugir da decoreba como o diabo da cruz
- Aprende-se quando o assunto é contextualizado, ou seja, conectado com o que é familiar ao aluno.
- Quanto mais bem preparada a aula, mais o aluno aprende
Tudo isso é válido, seja ao vivo ou na tela. Quem andava por esse catecismo e desembarcou no digital, provavelmente, deu-se bem. E vice-versa.
Voltando ao Titanic…
Sem minimizar a tragédia, a lista de consequências positivas do Titanic não foram poucas. O mesmo se dá com a Covid-19. Vejamos.
Quando apareceu o cinema, pensava-se que traria uma enorme contribuição para o ensino. Foi rechaçado. O mesmo com o rádio e a televisão. Faz meio século que os “evangelistas” da informática tentam levar os computadores para a sala de aula. Falharam fragorosamente.
Entra em cena a Covid. Em poucas semanas, os mais teimosos inimigos dos computadores, com a má vontade que se pode imaginar, mudaram-se para diante dos monitores. Aconteceu, subitamente, o que os otimistas pensavam tardar dez anos.
Em vez da lenta e penosa evolução, espocou a súbita revolução digital. Superada a pandemia, não é razoável imaginar que voltará tudo a ser como antes. O cenário mais provável é que, pelo menos, nas boas escolas, a sala de aula presencial será diferente e melhor.
As lições pedagógicas do experimento são mais sutis. Todavia, não menos importantes.
O remoto emergencial é uma caricatura do presencial. Exagera suas mazelas. O que estava disfarçado no presencial fica escancarado nele. Põe a descoberto a falta de contato da escola com os alunos. As desigualdades ficaram mais evidentes. Mostra as consequências de um ensino abstrato, distante do mundo real e de suas aplicações. Mostra as falhas dos materiais de ensino e de seu uso na sala de aula.
As boas lições do Titanic não cancelaram as 1.514 mortes. As da Covid tampouco atenuam a gravidade das perdas educacionais.
Contudo, o remoto pode ensinar lições preciosas para o presencial, por exibir os erros de forma amplificada. E, como não podemos repor os prejuízos educativos, pelo menos, temos que aproveitar o momento para acelerar as mudanças que foram conquistas recentes, bem como tirar as lições do passado.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional