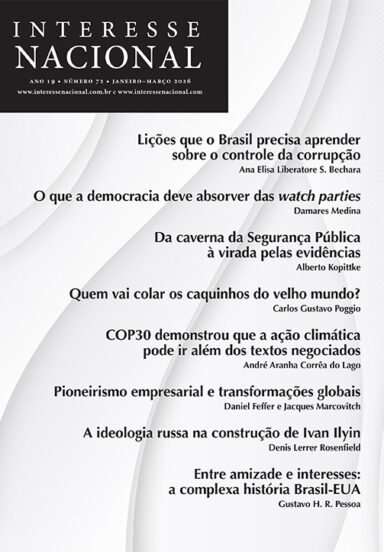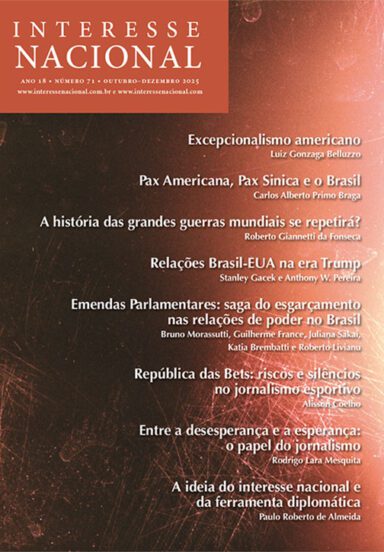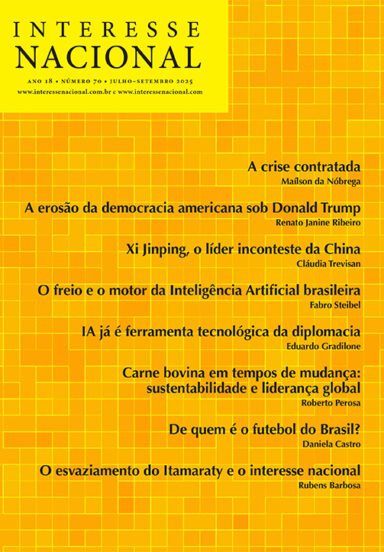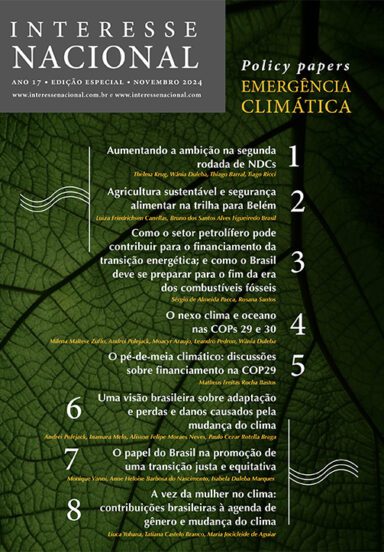O Outono Quente e as Estações que Seguem
Os eventos relacionados com os protestos e as manifestações deflagrados no Bra- sil em junho de 2013 têm faces variadas e já mudaram bastante de feição com o transcurso das semanas. Como assinalou André Singer, o “outono quente”, que teve seu auge em 20 de ju- nho, o dia em que o Itamaraty foi atacado, já fora substituído pelas “flores de inverno” no início de agosto, e, desde então, o que temos visto é, sobre- tudo, a mobilização de categorias profissionais na defesa de seus interesses específicos: centrais sin- dicais, médicos, funcionários da Infraero, delega- dos da Polícia Civil, demitidos da TAM e greves de categorias diversas no nível municipal, com destaque para Natal.1 Há também, além da expec- tativa de retomadas mais amplas em setembro, certos protestos insistentes de motivação política, em particular os dirigidos contra o governador Sérgio Cabral, e suas ramificações violentas promovidas por grupos radicais como os Black Blocs. O que continuamos a ver, porém, pode claramente ser ligado ao ambiente criado pela explosão de ju- nho. O desafio é entender essa explosão e a natu- reza das manifestações de junho no ineditismo de suas dimensões e de vários dos seus traços.
A disposição predominante quanto às manifes- tações de junho, vistas como espetacular expressão de ampla insatisfação popular, é a de avaliá-las como novidade positiva para o processo político brasileiro. Alguns enxergam nelas um ponto de in- flexão sem volta na história política do país, e mui- tos as romantizam numa perspectiva segundo a qual o povo a manifestar-se nas ruas, nas propor- ções do ocorrido em junho, representaria por si só um singular avanço democrático. Singular o movi- mento certamente foi, e não é o caso de negar sua importância para a dinâmica política do país e o aspecto potencialmente democratizante, que se im- põe, por suas dimensões, à atenção das autoridades e lideranças políticas, sensibilizando-as para temas que vêm a associar-se a este aspecto.
No entanto, há ponderações que lançam ques- tões intrigantes. Primeiramente, a observação de que o movimento, com seu ineditismo no Brasil, reproduz em alguns de seus traços básicos (a eclosão súbita e o papel cumprido pelo recurso à tecnologia das redes sociais e dos telefones celulares na mobilização das pessoas) o que temos observado recentemente pelo mundo afora em movimentos como a chamada Primavera Árabe, os “indigna- dos” da Espanha e o Occupy Wall Street, nos Esta- dos Unidos, a ocupação da praça Taksim, em Is- tambul – que ocorria, esta última, no justo momen- to em que os eventos brasileiros começaram a desenrolar-se. Não obstante, a diversidade de motivos nos casos de outros países leva à indagação sobre até que ponto, e de que modo, o significado do evento brasileiro estará condicionado pelo impacto do exemplo dos movimentos em outros países, considerando-se circunstâncias em que está dispo- nível a tecnologia que os tornou possíveis.2 Em se- gundo lugar, há o fato de que a megamanifestação brasileira de junho é o desdobramento de uma ação iniciada pelo Movimento Passe Livre (MPL), cujos objetivos explícitos, quaisquer que sejam as cone- xões e as inspirações políticas do MPL, eram bem limitados e específicos, referidos ao preço das pas- sagens de ônibus em São Paulo. As dimensões que deram caráter extraordinário aos eventos resultam de mobilização que não tem qualquer relação nítida com esse ponto de partida (o próprio MPL andou reagindo negativamente a ela) e que simplesmente pega carona na ação inicial para esparramar-se pelo país – na verdade, procurando tontamente objeti- vos que lhe dessem sentido.
Isso torna problemático o empenho de ligar com clareza as manifestações com a insatisfação que supostamente a teria produzido. É notável a insistência com que se falou, nas análises, de insatisfação “difusa”, sugerindo algo que se imagi-a ter impregnado de maneira extensa o ânimo da população, mas que, apesar da extensão, não se teria deixado perceber, donde o caráter surpreendente da explosão.
De fato, é difícil encontrar indícios de insatisfa- ção que sugerissem a iminência ou a possibilidade de explosões populares. Dados de relevância presu- mivelmente crucial, como os fornecidos pelo Índi- ce Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), mostram o oposto de uma “insatisfação difusa” que tivesse subitamente emergido na população em geral, e o mesmo ocorre nos resultados de pesquisa Ibope dirigida especificamente às manifestações.3 E há, naturalmente, o forte apoio a Lula e a seu governo, bem como ao governo de Dilma e à sua candidatura em 2014, que todas as pesquisas rele- vantes mostravam até bem pouco tempo.
Busca de explicações
Na imprensa, Miriam Leitão, desqualificando sem pestanejar o trabalho de institutos inde- pendentes que, ao longo de anos, têm convergi- do amplamente nos dados que produzem e visto seus números corroborados vez após outra pelos resultados eleitorais, indaga-se sobre as pesquisas de opinião de forma que revela exemplarmente a pronta disposição a acolher como a realidade “verdadeira” do Brasil dos dias correntes a insa- tisfação que as manifestações indicariam.4 Outros analistas dedicam-se simplesmente a tratar de explicar a insatisfação, e o que propõem varia bastante: temos visões estritamente político-par- tidárias, com ênfase na inépcia ou corrupção dos governos petistas sob Lula e Dilma (descartando o fato de que autoridades de diferentes níveis e partidos foram igualmente hostilizados,5 além do caráter antipolítico e antipartidário, para o que va- lha, que o próprio movimento reivindica). Temos também tortuosas elaborações sobre coisas como a restauração do “nacional-desenvolvimentismo”, envolvendo a tentativa, executada de modo pou- co consistente, não só de dissociar a “insatisfação difusa” da ocorrência de autoritarismo político ou de dificuldades econômicas, mas até de ligá-la, sem maior atenção para a literatura internacional pertinente, à suposta penetração, em nível mun- dial, de uma nova cultura (“pós-material”, dizem alguns) que afirmaria, contra o consumismo, a vi- gência de valores de natureza não material.6
De entremeio, há também a busca de explica- ção para o movimento em suas bases sociais e em quais seriam seus participantes decisivos. Aqui, a observação inicial é a de que não há informações ou dados seguros sobre a questão.7 Isso não impede que alguns destaquem a atuação de jovens da classe média “tradicional” (que, a julgar pelos indícios precários fornecidos pelas imagens nos meios de comunicação, parecem de fato predominar) e que outros falem das “novas classes médias” – caso em que os ganhos e avanços obtidos por seus integran- tes são vistos como combinando-se com as preca- riedades que subsistiriam no acesso a bens e servi- ços, especialmente públicos, levando a novas de- mandas. De todo modo, a indagação sobre as bases sociais se desdobra, do ponto de vista da relação do movimento com a democracia, na questão de como confrontar as minorias que se lançam às ruas, mes- mo singularmente numerosas, com os 200 milhões de pessoas, aproximadamente, que compõem a po- pulação do país. David Laitin, a propósito de dados de surveys canadenses sobre o funcionamento da democracia, expressa a intuição “realista”, que ou- tros compartilham, de que a operação da democra- cia envolveria minorias “intensas” (isto é, sofistica- das e politicamente competentes) a estabelecer as fronteiras do debate político dentro das quais se movem maiorias apáticas, e que o problema da es- tabilidade democrática consistiria na agregação de minorias sensíveis às questões políticas, indepen- dentemente do nível geral de informação e das dis- posições da coletividade mais ampla.8 Mesmo no caso de se acolher esse realismo (que se pode pre- tender ver como corroborado, no evento que nos interessa, pelo amplo apoio prestado pela popula- ção ao movimento), seria preciso lidar com a inda- gação sobre até que ponto teríamos aqui sofistica- ção e competência políticas das minorias em ação – sem falar da equívoca relação das manifestações com a ideia de estabilidade democrática. Seja como for, resta, quanto à ligação com a democracia em geral, a questão doutrinária de como eventuais mi- norias divergentes, em relação às manifestações ou a suas mensagens, poderiam pretender fazer-se ou- vir na dinâmica “unanimista” (apesar da confusão de objetivos) que caracteriza a tropelia da movi- mentação nas ruas e que repele com veemência, por exemplo, a participação de partidos, mesmo que estes entendam compartilhar certos objetivos e pre- tendam reforçar as mensagens correspondentes.
Razões de insatisfação
Há ainda algo que merece menção nas tenta- tivas de explicação da explosão de junho: que dizer de ideologias de um tipo ou de outro como possível fator? Uma sugestão é proposta por Bernardo Sorj, para quem se trata de um evento em que se prescinde de ideologias, ou no qual as pessoas “não possuem nem estão à pro- cura de discursos ideológicos”: a ação coletiva de agora “é diferente das de outros tempos quan- do as ideologias ocupavam um papel importante e os objetivos eram, ou nos pareciam, claros”.9
A questão pode ser apreciada rapidamente. Se a proposição de Sorj sobre a atuação das ideologias em “outros tempos” pretende aplicar-se à popula- ção em geral, e não apenas a intelectuais e estudan- tes (e alguns trabalhadores) politizados, ela é sim- plesmente falsa: as ideologias a que alude nunca tiveram penetração popular importante no Brasil, nem mesmo no imediato pré-1964 (a alusão certa- mente não remete à “ideologia” em sentido que pu- desse aplicar-se ao ideário conservador que se ex- pressou então em iniciativas como as “marchas da família com Deus pela liberdade”), e sua escassa penetração sem dúvida ajuda a explicar a facilidade com que o regime populista foi derrubado, salienta- da num velho texto de Fernando Henrique Cardo- so, entre outros.10 Por outro lado, no que se refere às manifestações recentes, não cabe descartar de todo o papel de ideologias de algum grau de articulação e elaboração no anarquismo ao estilo Black Blocs que nelas irrompe com frequência, compartilhando com certa velha esquerda intelectualizada de gera- ções anteriores a romantização da violência dirigi- da a um sistema visto ele mesmo como violento e opressor.11 Em vários artigos, Wanderley Guilher- me dos Santos tem falado de uma “conjuntura fas- cistóide” a propósito dos protestos e seus desdobramentos,12 e é, de fato, difícil pretender ne- gar o ingrediente autoritário e “fascistizante” da disposição violenta desse confuso anarquismo.
Se voltamos à insatisfação e a seu papel, não se trata, naturalmente, de negar que a realidade socio- econômica e política do Brasil de hoje apresente razões diversas de insatisfação. A começar pelos problemas de mobilidade urbana que estiveram no foco inicial dos eventos recentes, com o protesto contra o aumento das tarifas de ônibus, a lista dos problemas a merecerem destaque inclui os das áre- as de saúde, segurança e educação, com a precarie- dade dos serviços públicos oferecidos em cada uma delas. Acrescente-se a isso a conjuntura econômica marcada pelo crescimento claudicante, a ameaça inflacionária, os gastos do governo, o déficit nas contas externas, entre outros fatores. Há, por certo, o tema recorrente da corrupção política, vista com frequência como a razão principal para as deman- das relacionadas com a ideia de reforma política.
Mas, como ligar esse quadro com a ‘novidade’ que as manifestações representaram? Vários dos problemas mencionados estão longe de ser novos.
Por outro lado, a avaliação dos aspectos conjuntu- rais pode envolver maior ou menor pessimismo, e, além da dificuldade de ver insatisfação nos dados sistemáticos disponíveis, é possível encontrar ava- liações, como a de Benjamin Steinbruch em artigo de jornal, em que se critica de modo convincente, com referência aos dados econômicos pertinentes e a trabalhos técnicos de outros autores, a disposição pessimista com que tem sido considerada a conjun- tura que o país vive.13 No processo de transforma- ção socioeconômica que experimentamos há decê- nios e que produziu, recentemente, novas oportuni- dades de ascensão social, há certamente amplo es- paço para a expansão gradual da operação do que a sociologia tem chamado há muito de mecanismos de “privação relativa”, em que o ânimo conformista que tenderia a caracterizar as carências e a subordi- nação social quando experimentadas de maneira estável (como na sociedade de castas produzida pelo nosso longo escravismo) se vê substituído pela disposição reivindicante: quando a desigualdade diminui surgem as comparações e a percepção sub- jetiva da injustiça da desigualdade – e o ânimo de lutar contra ela, mas isso se relaciona de maneira complexa com o empenho de entender as manifes- tações de junho.
Desinformação e inconsistência
ssim, a operação da “privação relativa” sugere certa ideia de “quanto melhor, pior” (melhores condições objetivas, maiores frustração e descon- forto subjetivos), envolvendo mecanismos que, por sua natureza, estariam em atuação nos processos de desenvolvimento econômico e de transformação estrutural, quaisquer que fossem seus parâmetros políticos ou político-partidários.14 Tais mecanismos
Aproveriam, no máximo, um enquadramento remo- to para ações de protesto e reivindicação, para o qual não há como reclamar relação evidente com a explosão de junho. Além disso, um movimento que acaba contando com a oposição de não mais de 9% da população, segundo os dados CNI-Ibope (apesar de outros dados indicarem, em proporções importantes, reservas quanto ao recurso à violên- cia), dificilmente poderia ser visto como a luta dos deserdados. Nas condições de desinteresse e de- sinformação sobre temas sociopolíticos em geral vistas, segundo as pesquisas acadêmicas, na ampla maioria da população brasileira – apesar dos avan- ços sociais recentes –, é certamente razoável supor que o apoio derive antes do mero impacto direto da intensa e extensa exposição dos “protestos” na TV, à parte qualquer consideração minimamente atenta de razões de insatisfação (note-se que, em seguida a alguma vacilação inicial, as manifestações fo- ram sempre apresentadas, pela TV e pela imprensa em geral, sob a luz positiva de “afirmação da de- mocracia”, com a violência frequente debitada às “minorias de baderneiros”). Reservas análogas se aplicam igualmente a informações como as trazi- das pela pesquisa OAB-Ibope divulgada em 6 de agosto de 2013, com avassalador apoio à “reforma política”, em circunstâncias em que, sem dúvida, cabe presumir que a maioria dos entrevistados não tem ideia clara do que o tema envolve (aspecto que as informações disponíveis sugerem não ter sido explorado na pesquisa). Essa perspectiva geral, ressaltando desinformação e inconsistência, não é senão reforçada pela própria precipitação súbita das taxas de apoio à presidente Dilma e a vários outros líderes políticos, sendo claramente consequência direta das manifestações – e a respeito da qual cabe obviamente indagar se não se intensificará a rever- são moderada que novas pesquisas já indicaram.
Influência dos meios de comunicação
Daí brota uma conexão importante, e talvez mesmo crucial, para a compreensão mais adequada da natureza dos eventos de junho, entre condições intelectuais e psicológicas presentes em maior escala e traços que distinguem as próprias manifestações. Um aspecto especial é o da influ- ência dos meios de comunicação de massa tradi- cionais – e, assim, da “opinião pública” que eles ajudam decisivamente a moldar15 – na busca deso- rientada de temas e objetivos que vimos nas mani- festações, terminando por incluir todo e qualquer tema que, de algum modo, tenha surgido na agenda socioeconômica e política do país em tempos mais ou menos recentes. Apesar da novidade da forma explosiva e da aparência “revolucionária” das ma- nifestações, há indícios, realçados por pesquisas divulgadas pela Folha de S. Paulo, de que a vasta maioria dos links compartilhados pelos manifes- tantes são tomados da imprensa (não obstante o surgimento paralelo da chamada “mídia ninja”). O mais importante é certamente o fato de que essa im- pregnação pela “opinião pública” resulta na ingê- nua disposição antipolítica do movimento, a adesão sem mais à visão intensamente negativa da política e dos políticos, decorrente da forte associação en- tre política e mera corrupção há muito presente nos meios de massa tradicionais e, como consequência, na “opinião pública” – disposição que se desdobra no repúdio aos partidos e a qualquer associação das manifestações com eles. Por certo, a ingenuidade tem matizes, que às vezes se opõem de forma pe- culiar à “opinião pública”, como é o caso dos gru- pos anarquistas que pretendem agir politicamente ao recorrer a atos violentos que eles presumem revestir de um simbolismo anticapitalista. Mais interessante, porém, é contrapor a essa violência anarquista (ou, em dados casos, simplesmente ao oportunismo de criminosos) certa propensão geral ao embate violento presente mesmo nas manifesta- ções supostamente “pacíficas”, que acabam sempre por tomar o rumo do enfrentamento aberto com as instituições (prefeituras, câmaras municipais e as- sembleias legislativas, governadores e Congresso.). É claro que, se se tratasse simplesmente de trazer certas mensagens a público em termos republica- nos, a vastidão das manifestações e a cobertura singularmente intensa dos meios de massa seriam mais que suficientes.16
Isso permite ressaltar que o movimento não somente é contrário à política e aos partidos, mas é marcado, mais amplamente, por uma disposi- ção geral de caráter anti-institucional. Essa dis- posição surge, às vezes, de maneira confusa na reivindicação de “democracia direta”, desatenta não apenas para a relação da democracia direta com a inexistência, já no caso da Atenas clássica,
dos direitos civis que a estrutura institucional do constitucionalismo assegura, mas também para as muitas distorções que a experimentação com mecanismos de democracia direta enseja, como o exemplo da Califórnia da atualidade. Em prin- cípio, é possível relacionar o ânimo anti-institu- cional com a falha em buscar o necessário equi- líbrio entre dois ideais: de um lado, um ideal re- publicano de participação e envolvimento com a política e atenção para os deveres do cidadão, que impele ao espaço público e eventualmente às ruas; de outro lado, um ideal liberal em que o cidadão busca resguardar-se contra a tropelia e a violência, com as quais a necessidade de presen- ça nas ruas tende a estar associada, e anseia pela construção institucional efetiva, capaz de garan- tir, a um tempo, o interesse público e os direitos de cada um – incluído o crucial direito de ir para casa em paz, tomado em sentido bem mais amplo do que o que remete aos obstáculos criados pelas manifestações para o deslocamento nas cidades ou estradas. Embora o ideal liberal possa parecer o mais diretamente ameaçado pelos eventos de junho e seus desdobramentos, é difícil pretender ver a afirmação de um ideal republicano no anti- politicismo e anti-institucionalismo viscerais do movimento e no jogo violento de que acaba dis- pondo-se a participar.
Manifestações fúteis
Em suma, a análise me parece desaguar na avaliação de que, em vez da ênfase nos in- gredientes de afirmação democrática e na moti- vação nobre que teria movido os manifestantes, a melhor explicação para os eventos de junho provavelmente depende da atenção para uma possibilidade banal. É necessário distinguir, sem dúvida, entre a tecnologia de celulares e redes sociais como instrumento facilitador das mobilizações populares e os motivos em torno dos quais as pessoas se mobilizam. Pode acontecer, contudo, que a simples disponibilidade da tec- nologia venha ela mesma a fornecer os motivos. Em outras palavras, é possível – e proponho que isto descreva os fatos ocorridos – que as mani- festações em suas dimensões especiais tenham sido, em boa medida, fúteis ou uma mera imi- tação das irrupções anteriores (e simultâneas) em outros países, após deflagrada com êxito pelo MPL – sua primeira etapa referida ao preço das passagens de ônibus (e certamente contando com estímulos adicionais na excitação produzi- da pelo começo coincidente da Copa das Confe- derações e na dureza da repressão policial ini- cial, depois amplamente substituída, diante da leitura “democrática” dos eventos, por leniência e omissão). Isso não significa que ingenuidade, desorientação e futilidade tornem o movimento inconsequente: uma vez alcançada a dimensão que adquiriu, é fatal que ele afete a cena políti- co-institucional e que atores políticos variados se movam em resposta, embora essa resposta possa, naturalmente, ser mais ou menos lúcida e adequada. Agora que se viu que é possível, e mesmo fácil, semear furacões, cabe aguardar novos deles, em particular, talvez, para 2014, com o chamariz atraente que a combinação de Copa do Mundo e eleições presidenciais deverá representar. Esperemos que, diferentemente do que temos visto, a cultura dos heróis mascarados da era de Anonymous não continue a ter êxito em definir o “politicamente correto” em termos capazes de inibir as instituições do estado demo- crático no exercício de suas responsabilidades. E que a perplexidade e as vacilações exibidas até aqui pelas autoridades e lideranças políticas não tenham ainda garantido o ambiente que nos leve duradouramente a primaveras, verões, ou- tonos e invernos quentes.
- André Singer, “Flores de Inverno”, Folha de S. Paulo, 3 de agosto de 2013, p. A2.
- Dados do IBGE (http://www.tecmundo.com.br/brasil/39797- ibge-uso-de-celular-e-internet-cresceu-mais-de-100-no- brasil-em-seis-anos.htm) mostram aumento de mais de 100% no uso da internet e do celular entre 2005 e 2011 no Brasil. Quanto a outras pesquisas: “Segundo o Ibope Media, somos 94,2 milhões de internautas tupiniquins (dezembro de 2012), sendo o Brasil o 5º país mais conectado. De acordo com a Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros conectados à internet aumentou de 27% para 48%, entre 2007 e 2011”. Ver http://tobeguarany.com/internet_no_brasil.php , onde se remete às fontes dos dados.
- O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor de julho de 2013, em que a série histórica de dados mensais entre maio de 2012 e julho de 2013, exceto por pequena variação quanto à expectativa de inflação neste último mês, não mostra alterações significativas ao longo do período nas expectativas quanto aos diferentes itens estudados, ou seja, inflação, desemprego, renda própria, situação financeira, endividamento, compra de bens de maior valor (http://www. portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/ publicacoes/2012/09/1,4695/indice-nacional-de-expectativa- do-consumidor.html). Já a “Pesquisa de Opinião Pública sobre as Manifestações” do CNI-Ibope Inteligência, executada em junho de 2013 e conduzida com amostra
de alcance nacional e entrevistas em 79 municípios do país, revela que 71% do total de entrevistados se declaram “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” quando indagados a respeito da “vida que vêm levando hoje” – e só as variáveis relacionadas com o porte ou outras características dos
municípios (região metropolitana versus outros, por exemplo) apresentam correlações de alguma relevância com a satisfação, ocorrendo menor satisfação (ainda assim, mínimo de 67% de satisfeitos) nos municípios de maior porte e nas regiões metropolitanas (ver pp. 4, 5 e 6 do relatório). - Miriam Leitão, O Globo, 23/06/2013, coluna “Entender o Brasil”: “E as pesquisas de opinião? O que é mesmo que perguntaram para captar tanta popularidade do governo? Como isso se encaixa com o que vimos agora?”
- Economy, Public Policy, and Performance (Berkeley:
- University of California Press, 2002). Ver também Fábio W. Reis, “A Propósito do Artigo de André Lara Resende” (http:// www.schwartzman.org.br/sitesimon/?p=4551&lang=pt-br).
São em princípio relevantes, embora a direção de seus efeitos sobre as manifestações não seja inequívoca, os dados relativos à maneira pela qual a desigualdade social afeta a exposição à internet: “A desigualdade social, infelizmente,
também tem vez no mundo digital: entre os 10% mais pobres, apenas 0,6% tem acesso à internet; entre os 10% mais ricos esse número é de 56,3%. Somente 13,3% dos negros usam
a internet, mais de duas vezes menos que os de raça branca (28,3%). Os índices de acesso à internet das regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) contrastam com os das regiões Norte (12%) e Nordeste (11,9%).” (http://tobeguarany.com/ internet_no_brasil.php) Mas, mesmo nas pesquisas voltadas especificamente para as manifestações, são muito escassas as informações sobre sua relação com estratos socioeconômicos. Segundo a Folha de S. Paulo de 10/08/2013, p. A8, o Datafolha teria mostrado (não foi possível encontrar os
dados precisos correspondentes) que “os ativistas, em sua grande maioria, são jovens [e] têm ensino superior”. Pode
se consultar também, por exemplo, o relatório da pesquisa CNI-Ibope de julho de 2013, no qual tudo o que se encontra a respeito são algumas informações sobre as diferenças de apoio às manifestações entre os diversos estratos de renda
e instrução e suas projeções regionais: “Apenas 9% da população se posiciona contra as manifestações. Quanto maior a idade do entrevistado, mais alto o percentual de marcações contra as manifestações. Entre os com 50 anos ou mais, 15% são contra. A posição contrária também é maior entre os com menor grau de instrução (17% entre os com até a 4ª série do ensino fundamental) e menor nível de
renda familiar (16% entre os com até um salário mínimo). Na região Nordeste e no conjunto das regiões Norte e Centro- Oeste, os percentuais dos que são contra as manifestações são 12% e 11%, respectivamente.” (P. 30)
David Laitin, “The Civic Culture at 30”, American Political Science Review, vol. 89, no. 1, março de 1995, resumindo as principais contribuições encontradas em David J. Elkins, Manipulation and Consent: How Voters and Leaders Manage Complexity, Vancouver, University of British Columbia Press, 1993. - Ver a Pesquisa CNI-Ibope-Edição especial-Junho de 2013 (http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-
e-estatísticas/publicacoes/2013/06/1,4053/pesquisa-cni- ibope-avaliacao-do-governo.html).
Ver André Lara Resende, “O Mal-Estar Contemporâneo”, Valor Econômico, 05/07/2013. Cuidadosa avaliação dos dados e análises relevantes, que desqualifica com força as teses que afirmam a importância dessa nova cultura “pós- materialista”, pode ser encontrada em Harold L. Wilenski, “Postindustrialism and Postmaterialism? A Critical view of the ‘New Economy’, the ‘Information Age’, the ‘High Tech Society’ and All That”, Wissenschaftszentrum für
Sozialforschung (WZB), Berlim, fevereiro de 2003; excerto de Harold L. Wilensky, Rich Democracies: Political - Bernardo Sorj, “A Política Além da Internet” (http://www. schwartzman.org.br/sitesimon/?p=4520&lang=pt-br).
Fernando Henrique Cardoso, “Structural Bases of Authoritarianism in Latin America”, reproduzido em
F. H. Cardoso, Charting a New Course: The Politics of Globalization and Social Transformation, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 2001, editado por Maurício A. Font.
Veja-se a entrevista de “Roberto” (nome fictício), “Não há violência no Black Bloc. Há performance”, Carta Capital, n. 760, 2 de agosto de 2013.
Veja-se, por exemplo, Wanderley Guilherme dos Santos, “As raízes da revolta” (http://www.ocafezinho. com/2013/07/26/as-raizes-da-revolta/). - Brasil: ¿la tendencia para el futuro en América Latina?”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2013, no. 93, 2013, Vanderbilt University (http://www. vanderbilt.edu/lapop/insights/IO893es.pdf). A partir
das manifestações ocorridas agora no Brasil, os autores salientam, ao lado do maior acesso às redes sociais, o forte crescimento econômico na última década e os avanços na educação para prever “uma nova era de protestos” para outros países do continente, como Chile, Uruguai e Peru. - Benjamin Steinbruch, “Xô, Pessimismo”, Folha de S. Paulo, 30/07/2013, p. B8. Note-se que mesmo no artigo intelectualmente mais ambicioso de André Lara Resende, mencionado acima, a necessidade de reconhecer os vários aspectos socioeconômicos positivos da conjuntura brasileira é, apesar das confusões do texto, a razão para buscar explicações “pós-materialistas” para as manifestações.
Abrindo mão de referências clássicas sobre “privação relativa”, mencionemos o trabalho recentíssimo de Mason Moseley e Matthew Layton, “Prosperidad y protestas en - Isso envolve, como parece claro, reservas importantes quanto à usual santificação da “opinião pública”, tratada no singular como a expressão unânime das ideias e da vontade da nação. Na verdade, a expressão encobre uma entidade fluida e plural, de relações complicadas com o princípio majoritário que a democracia tende a valorizar, razão pela qual aquilo que se presume ser “a opinião pública” com frequência se aparta do que revelam pesquisas de opinião sistemáticas, com regras precisas de amostragem, e das inclinações do eleitorado em geral.
- Um breve comentário adicional quanto ao papel dos meios de comunicação de massa: a influência a que me refiro tem a ver com algo que ocorre há muito, como parte e fator importante de uma “cultura” geral negativa a respeito da política. Essa cultura resulta da frustração inevitável de uma visão idealizada da atividade política, que a trata em termos da busca de valores cívicos e do bem público e deslegitima os interesses pessoais que, naturalmente, compõem também a motivação de quem quer que se dedique a
ela, como a qualquer outra atividade (curiosamente, a cultura negativa alcança mesmo categorias dedicadas profissionalmente a estudar assuntos correlatos, como os economistas, que, sendo os campeões do “realismo” quanto à prevalência dos interesses na sua seara própria, com alguma frequência se mostram, entre nós, prontos a denunciar a vilania dos interesses quando se trata
do Estado ou da política, apesar de correntes teóricas que procuram estender os supostos realistas a todos os campos da vida social). Outra perspectiva quanto aos meios de massa em relação aos eventos de junho,
especialmente no caso da chamada “grande imprensa”, é a que indaga sobre a possível motivação político-partidária de sua atuação, tendendo a ver a intensa cobertura e a insistente avaliação “democrática” das manifestações como parte de uma estratégia antigovernista atenta aos desdobramentos para as eleições de 2014. Talvez haja algo de verdade nessa leitura. A dificuldade, contudo, reside no caráter difundido dessa avaliação “democrática”, amplamente compartilhada (com certeza, em muitos casos, por motivos espúrios de “correção” política) por lideranças político- partidárias de todos os naipes e variados setores sem grande expressividade da imprensa, não obstante eventuais reservas de alguns blogs de afinidades governistas.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional