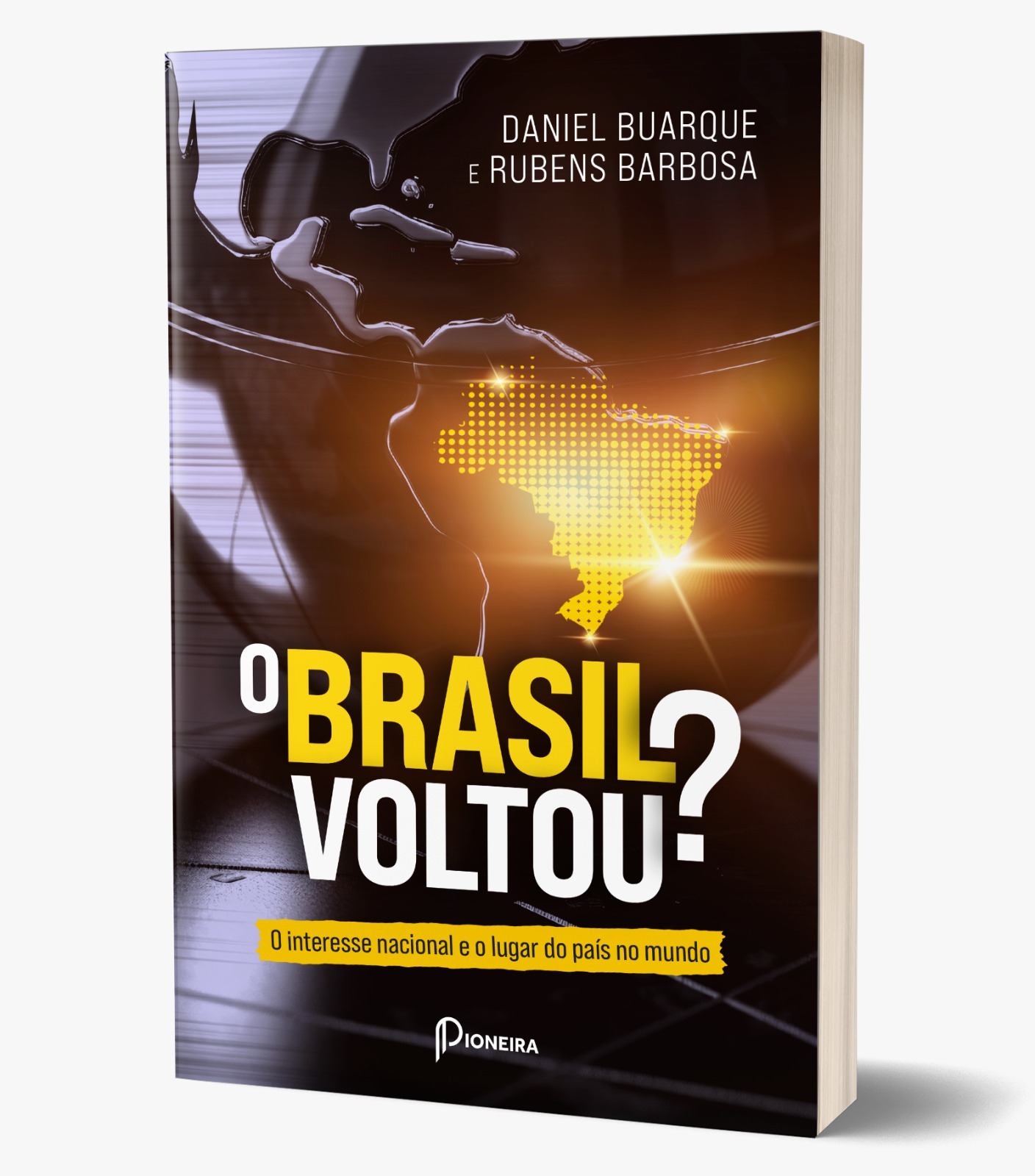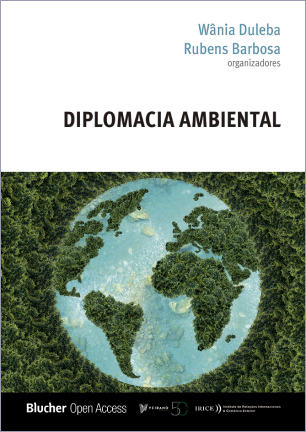Diplomacia não é o contrário da guerra, nem sinônimo de multilateralismo
Quando lamentamos a ‘crise da diplomacia’, talvez estejamos errando o alvo. A diplomacia não desaparece nos conflitos – ela muda de função. Trata-se de uma técnica de gestão das relações entre Estados, que pode ser usada para negociar tratados de paz ou para ameaçar com credibilidade. Ela é parte do jogo político, e não seu substituto. O que está em crise é a política

Em meio ao agravamento dos conflitos internacionais – Ucrânia, Gaza, e recentes tensões entre Israel e Irã – é comum ouvirmos que a diplomacia estaria em declínio.
Especialmente após o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, com sua política externa mais assertiva, menos multilateral e menos afeita às formas tradicionais de negociação, muitos decretaram o fim de uma era “diplomática” das relações internacionais.
Mas esse diagnóstico parte de dois equívocos conceituais que precisam ser enfrentados: primeiro, o de que diplomacia e guerra se opõem por natureza; segundo, o de que diplomacia e multilateralismo são equivalentes.
‘A diplomacia não é o oposto da guerra ou a guardiã automática da paz, mas um instrumento do Estado, profundamente inserido no jogo político’
Nenhuma dessas ideias se sustenta, ao menos não se pensarmos a diplomacia como uma prática política concreta, e não como um ideal abstrato. A diplomacia não como o oposto da guerra ou a guardiã automática da paz, mas como aquilo que ela realmente é: um instrumento do Estado, profundamente inserido no jogo político – e que, por isso mesmo, não desaparece nos conflitos, mas se adapta a eles.
A crença de que a diplomacia está “sumindo” parte da noção de que ela representaria um ideal normativo – de paz, diálogo, racionalidade, cooperação. Mas essa é uma imagem incompleta.
A diplomacia é uma técnica política, um conjunto de práticas institucionais e profissionais voltadas à gestão das relações entre Estados. Ela pode buscar a paz, mas também pode servir à guerra. Pode viabilizar cooperação, mas também pode operar coerção. Pode abrir caminhos para o entendimento, mas também pavimentar estratégias de contenção, isolamento e até de ameaça velada.
‘Ao associarmos a diplomacia apenas ao “lado bom” da política externa, corremos o risco de naturalizar sua positividade’
Ao associarmos a diplomacia apenas ao “lado bom” da política externa, corremos o risco de naturalizar sua positividade. Mas não há nada intrinsecamente virtuoso na diplomacia. Diplomatas são servidores do Estado – não da paz. E o Estado age conforme seus interesses estratégicos, nem sempre compatíveis com princípios universalistas. Mesmo em tempos de guerra, os canais diplomáticos seguem ativos: para mediar trocas de prisioneiros, coordenar cessar-fogos, buscar aliados ou, até mesmo, medir a disposição do inimigo.
Nesse sentido, a diplomacia não cessa com a guerra – ela apenas muda de feição. A tensão entre Israel e Irã, por exemplo, é acompanhada por operações intensas de bastidores, mediações indiretas por países terceiros e trocas informais que buscam evitar a escalada total.
‘A diplomacia persiste – não como uma alternativa à guerra, mas como parte do próprio conflito’
O mesmo se aplica à guerra na Ucrânia, onde Rússia e potências ocidentais continuam, mesmo em conflito aberto, mobilizando suas redes diplomáticas. A diplomacia persiste – não como uma alternativa à guerra, mas como parte do próprio conflito.
Outro ponto que precisa ser esclarecido é a distinção entre diplomacia e multilateralismo. Há uma tendência difusa de tratar os dois como sinônimos. Não são.
O multilateralismo é um arranjo político que envolve a cooperação institucionalizada entre múltiplos Estados com base em regras comuns e, muitas vezes, valores compartilhados. Já a diplomacia é o meio pelo qual esses arranjos podem ser articulados, mantidos ou até sabotados.
‘Não é a diplomacia que garante o multilateralismo, mas o engajamento político dos Estados com as instituições multilaterais’
Não é a diplomacia que garante o multilateralismo, mas o engajamento político dos Estados com as instituições multilaterais. Um Estado pode ter diplomatas ativos, bem treinados e eficazes – e ainda assim boicotar o funcionamento de organismos internacionais. Pode adotar uma diplomacia intensa no plano bilateral ou regional e, ao mesmo tempo, esvaziar instâncias como a ONU, a OMC ou o sistema de direitos humanos.
O que está em jogo, portanto, não é a morte da diplomacia, mas a crise da vontade política multilateral. E essa crise não pode ser resolvida com apelos abstratos à diplomacia. É preciso resgatar a política – e os princípios que sustentam os arranjos coletivos. Não adianta confiar na diplomacia como se ela fosse, por si só, um freio ao autoritarismo, à violência ou à guerra. A confiança deve estar na política bem orientada. A diplomacia é o meio – não o fim.
‘O que sustenta um sistema multilateral é o compromisso político com regras comuns, com a resolução pacífica dos conflitos e com o reconhecimento mútuo da legitimidade dos Estados’
Há, por trás da retórica sobre o “declínio da diplomacia”, uma nostalgia por uma ordem liberal internacional que, para muitos, já não existe. Mas insistir em que a diplomacia sozinha possa restaurar essa ordem é não apenas esperança mal alocada, mas contraproducente. O que sustenta um sistema multilateral é o compromisso político com regras comuns, com a resolução pacífica dos conflitos e com o reconhecimento mútuo da legitimidade dos Estados. Sem isso, os canais diplomáticos se tornam meras ferramentas para a administração do caos – ou da dominação.
Por isso, o debate urgente não é sobre se a diplomacia ainda existe – ela existe, e continuará existindo. A pergunta mais relevante é: que política queremos sustentar por meio dela?
O desafio contemporâneo é reconstruir a política internacional em torno de princípios que deem sentido e direção à ação diplomática: a dignidade humana, a igualdade soberana, a legalidade internacional, a justiça climática, entre outros.
‘Confiar na diplomacia é confiar nos meios. E meios são neutros: servem a propósitos’
Confiar na diplomacia é confiar nos meios. E meios são neutros: servem a propósitos. Confiar na política, por outro lado, é escolher os fins. E são os fins que hoje estão em disputa. Devemos buscar reabilitar a política, não fetichizar os meios.
A diplomacia não desaparece nos conflitos – ela muda de função. Não é o oposto da guerra, nem sinônimo de paz. Também não é sinônimo de multilateralismo. A diplomacia é uma técnica de gestão das relações entre Estados, que pode ser usada para negociar tratados de paz ou para ameaçar com credibilidade. Ela é parte do jogo político, e não seu substituto.
Portanto, quando lamentamos a “crise da diplomacia”, talvez estejamos errando o alvo. O que está em crise é a política. E se queremos reconstruir um sistema internacional minimamente estável, justo e previsível, é nela que devemos investir. Não em apelos vazios à diplomacia, mas na renovação dos compromissos políticos e éticos que possam orientar sua prática.
Felipe Estre é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e King’s College London. Atualmente, é pós-doutorando na Universidade de Brasília, onde estuda o impacto da Nova Direita nas práticas diplomáticas. Além disso, é colaborador da Rede de Segurança e Defesa da América Latina (RESDAL).
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional