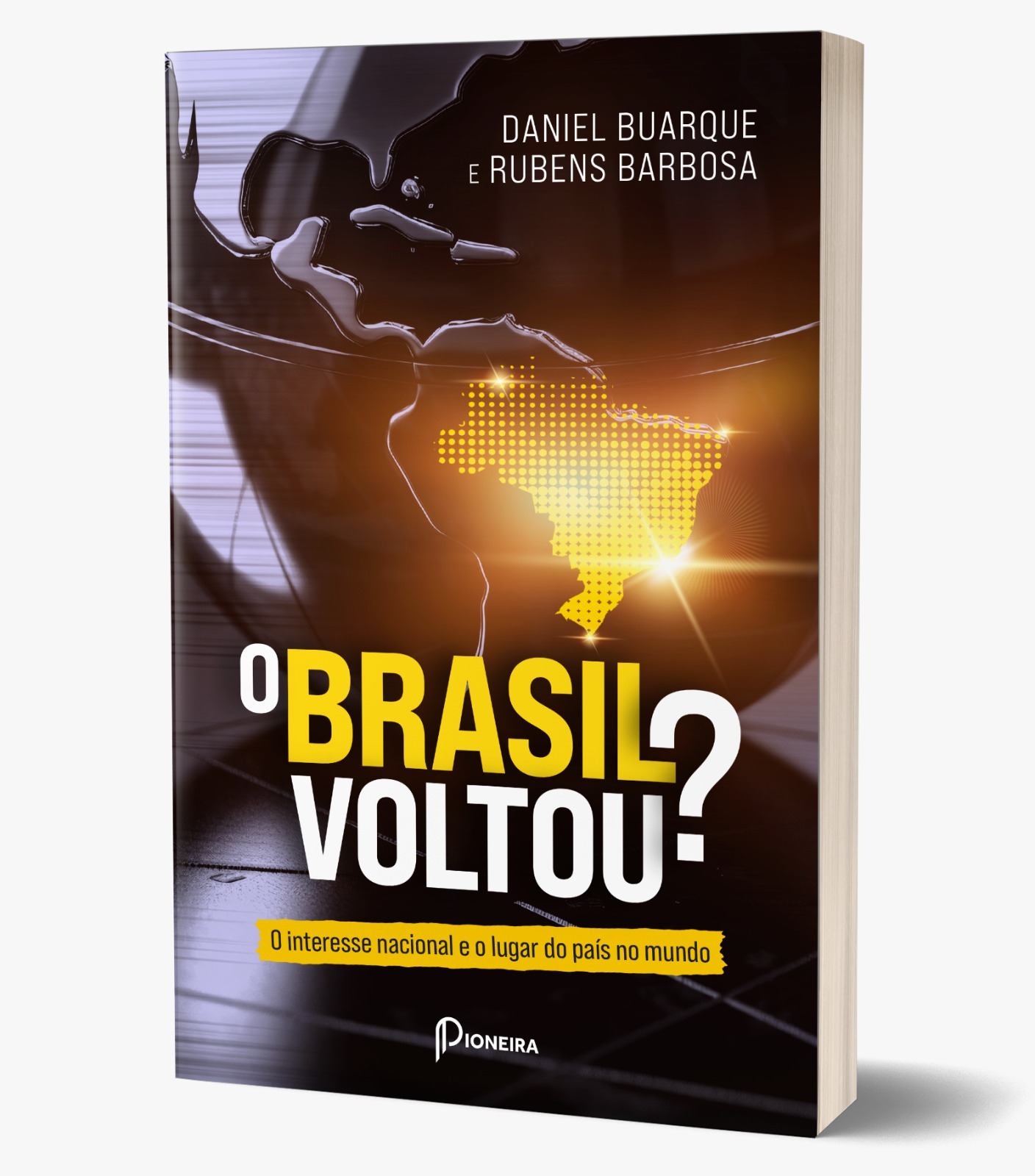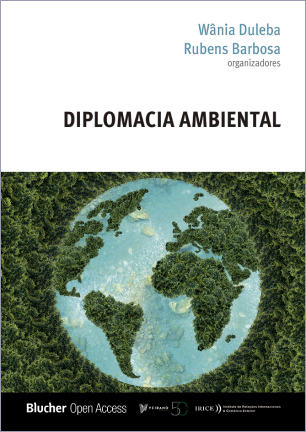O STF e a anistia dos golpistas de 8 de janeiro de 2023
O julgamento do projeto de lei da anistia dos réus condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 será tão impactante quanto foi o julgamento que condenou Bolsonaro e seu grupo mais próximo à prisão

Por José Eduardo Campos Faria*
A exemplo do que ocorreu com o voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu círculo mais próximo, pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que a corte poderá tomar – caso seja interposta uma ação de inconstitucionalidade do projeto de lei da anistia dos golpistas do 8 de janeiro de 2023 – também suscitará indagações sobre o alcance e o embasamento dos votos de cada um dos onze ministros.
Nesse sentido, o que se pode esperar desse julgamento? Como os ministros interpretarão um projeto de lei que colide com cláusulas pétreas da Constituição? Eles se aterão aos textos legais, interpretando-os de modo basicamente formalista – modo esse conhecido nos tribunais como interpretação secundum legem? Ou optarão por um modo hermenêutico praeter legem – ou seja, por interpretações mais alargadas, que se fundamentam não só em textos legais, mas também em princípios jurídicos, filosóficos e morais e até mesmo em análises sociológicas?
A interpretação secundum legem valoriza basicamente a racionalidade lógico-formal na aplicação de uma norma a um caso concreto, relegando a questão das consequências fáticas da decisão judicial. Quase sempre tomando mais os princípios constitucionais do que as regras constitucionais, a interpretação praeter legem tende a direcionar as decisões judiciais a partir da avaliação de suas consequências concretas para as partes e para a própria sociedade – tendência essa que, entre outras consequências, abre caminho para uma crescente atuação de caráter legislativo ou normativo do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, em que medida haverá interpretações da Constituição radicalmente divergentes e votos que, apesar de atestarem a independência de seus autores e o espírito democrático do Supremo, colidirão frontalmente nos planos doutrinário e institucional com o entendimento da maioria da corte – a exemplo do que ocorreu com Fux, no julgamento de Bolsonaro?
Durante muitas décadas, as diferentes instâncias do Judiciário brasileiro ficaram presas à visão do direito como um sistema lógico-formal de regras – e, nos tribunais superiores, poucos ministros optaram por interpretações praeter legem em seus julgamentos. Com a urbanização acelerada, o avanço da mobilidade social, a mudança da pauta moral e o subsequente advento de conflitos jurídicos cada vez mais complexos, a criação de departamentos jurídicos por sindicatos trabalhistas e o surgimento dos movimentos sociais, a situação mudou, abrindo caminho para o estilhaçamento das expectativas comuns de justiça prevalecentes nas décadas de 1940-1970.
Dada a heterogeneidade social a partir das duas décadas finais do século 20, a sedimentação de novos padrões de comportamento se tornou cada vez mais difícil. Os conflitos jurídicos foram se tornando mais intrincados, envolvendo um número crescente de partes envolvidas num mesmo processo num embate judicial. Com isso, a ordem jurídica passou a contar com normas de caráter crescentemente principiológico, com base na premissa de que as vaguezas e as indeterminações semânticas das leis propiciariam uma combinação entre permanência e mudança da ordem jurídica.
A ideia é que normas vagas e indeterminadas permitiriam à lei permanecer estável, ao mesmo tempo em que, por meio de sucessivas reinterpretações, ela se adequaria às novas circunstâncias da sociedade brasileira. Foi com base nela que as novas gerações de promotores e magistrados passaram a interpretar o direito positivo com base em ponderações entre diferentes visões jurídicas, políticas e morais, por um lado. E, por outro, a se aprofundar nos aspectos factuais dos chamados casos difíceis levados à sua avaliação e julgamento. Ou seja, casos em que há incertezas decorrentes de uma norma aplicável de forma precisa.
Entre as duas últimas décadas do século 20 e as duas primeiras décadas do século 21, foi crescendo nas faculdades de direito, no Ministério Público e no Judiciário a percepção de que o sentido de uma norma jurídica não era mais algo objetivo que poderia ser encontrado num texto legal. Ele teria passado, isto sim, a ser o resultado de um processo de leitura desse texto condicionado pela experiência pessoal, profissional e cultural dos professores, dos advogados, dos promotores e dos juízes e dos ministros dos tribunais superiores.
Nesse sentido, quando os tribunais examinam um texto legal, especialmente aquele que se baseia em princípios como os da justiça, da igualdade, da dignidade e da função social da propriedade, por exemplo, não existe um sentido único a ser extraído dele. O que há são sentidos contextualizados pelas circunstâncias que balizam a escrita e a comunicação dos legisladores, dos promotores e dos magistrados. E, uma vez que nas sociedades complexas as normas jurídicas não são linguisticamente unívocas, ao julgar ações de inconstitucionalidade, os ministros de uma corte constitucional – como o STF – elegem, entre os vários sentidos possíveis de uma norma, o que melhor pode efetivar a função estabilizadora do direito positivo.
Foi exatamente isso que fizeram os quatro ministros da Primeira Turma do STF que condenaram Bolsonaro e o núcleo de suas articulações golpistas. E foi por não ter adotado esse comportamento que o voto de Luiz Fux deixou perplexos os meios jurídicos e políticos do País – perplexidade essa exponenciada pelo fato de que, ao fundamentar sua decisão, recorreu a muitos juristas já falecidos há mais de meio século, quando eram outras as condições políticas e socioeconômicas do País. Ao mesmo tempo, deixou de lado juristas contemporâneos, que estudam as estratégias de políticos carismáticos, autoritários e com inclinações perigosas para disputar eleições democráticas com o objetivo de ascender ao poder para corroê-lo por dentro, minando as instituições, erodindo hierarquias, eliminando liberdades públicas e direitos fundamentais, bem como cerceando o Congresso e o próprio Judiciário.
Normas constitucionais são edificadoras da realidade e, à medida que esta vai se tornando mais complexa e multifacetada, os legisladores tendem a optar por conceitos cada vez mais abertos ou vagos. Esses conceitos atuam como fator de estabilização do ordenamento jurídico e preservação de sua identidade sistêmica. Além disso, uma vez que não são autoexecutáveis, conceitos abertos e vagos implicam a transferência da responsabilidade por seu “fechamento” aos tribunais. Dito de outro modo, quando os juízes e ministros dos tribunais superiores recorrem a uma norma principiológica para embasar suas decisões em litígios polêmicos, na prática eles estão legislando para os casos concretos.
Na oposição a essa Justiça mais protagonista, há quem diga que ela inviabiliza uma cultura comum capaz de calibrar as expectativas de toda a sociedade. Em razão do crescimento da indeterminação semântica de normas que integram a ordem jurídica brasileira, essa prática estaria ameaçando a própria segurança do direito. Isto porque, no limite, uma decisão judicial converte-se numa decisão política. Foi isso que levou o bolsonarismo, replicando as asneiras ditas por seu líder, a falar em “tirania do STF”, com o explícito objetivo de deslegitimar a corte. E, também, a classificar o relator do processo contra Bolsonaro como “ditador da toga”, estimulando o governo Trump a acionar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua mulher.
É por esses motivos que o julgamento do projeto de lei da anistia dos réus condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 será tão impactante quanto foi o julgamento que condenou Bolsonaro e seu grupo mais próximo à prisão. A primeira punição de um governante golpista na história brasileira foi uma decisão importante, apesar da surpresa do teor do voto do ministro Luiz Fux. Num eventual julgamento da inconstitucionalidade desse projeto de lei, quais serão os ministros que agirão como Fux, optando por uma interpretação secundum legem e justificando seu voto com base em autores com visões jurídicas antiquadas e ultrapassadas?
José Eduardo Campos Faria é professor da Faculdade de Direito da USP
Este texto é uma reprodução autorizada de conteúdo do Jornal da USP - https://jornal.usp.br/
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional