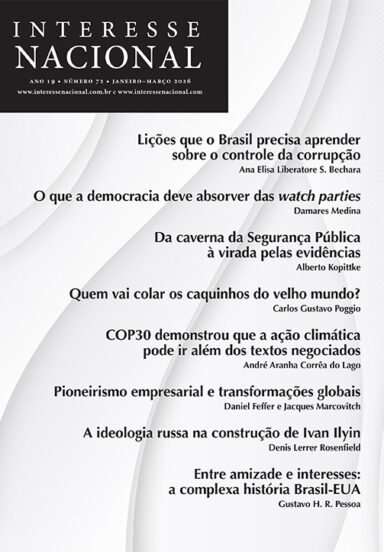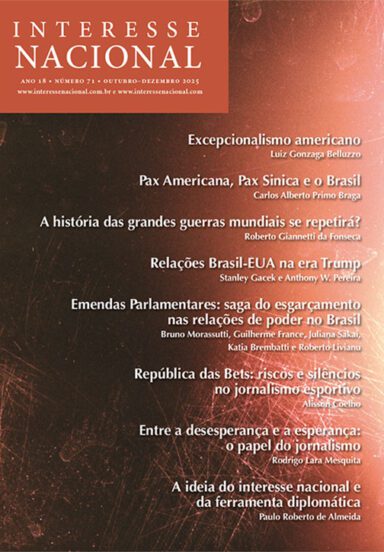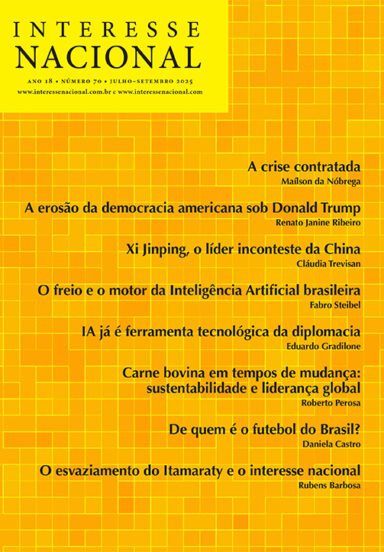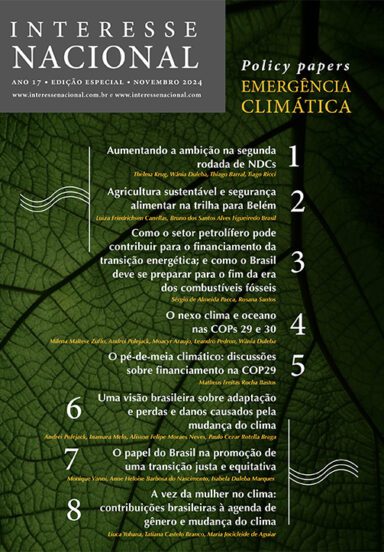Revolução no Mundo dos Museus
Museus eram vistos como lugares re- pletos de poeira e mofo. Coleções ve- tustas em pesados e monótonos arranjos, entre galerias sombrias e enfadonhos gabine- tes de curiosidades, não atraíam o público e pare- ciam condenadas ao esquecimento. Seriam “ce- mitérios” ou depósitos de velhas quinquilharias. A vida passava ao largo, na busca veloz de espa- ços fascinantes, meios modernos de comunica- ção e intenso movimento.
Paul Valéry se queixara da inutilidade de qua- dros pendurados e vitrines estanques nas galerias dos museus. André Malraux criou o Museu Ima- ginário, uma invenção que se oferece a quem quiser à distância pontuar o universo da criação artística. Murilo Mendes, com o olho armado do poeta, instalou o seu museu na Via del Consola- to, mirando a arte europeia do tempo. Merleau-Ponty lamentou, em texto de 1951, que os obje- tos de arte, no sítio dos museus, viessem a perder substancialmente seu poder de emocionar. Os muros severos dos museus assombraram a sensi- bilidade geral.
No segundo tomo da biografia de Getúlio Vargas, Lira Neto registra frase do jurista Fran- cisco Campos, o redator da “Polaca”, às vésperas do Estado Novo: “Uma sala de parlamento tem hoje a mesma importância de que uma sala de museu”. Mas, assim como os parlamentos se re- abriram e reocuparam o espaço próprio na vida pública, os museus também tiveram as portas es- cancaradas para a sociedade. Ao espalhar suas “latas-fogo” pela cidade, como sinais cósmicos, crepitando símbolos, Hélio Oiticica anunciou: “museu é o mundo: é a experiência cotidiana”. E aboliu todos os muros e fronteiras.
Novos tempos iluminaram perspectivas, e o museu, neste início do século XXI, assumiu um papel de grande protagonismo na cena cultural. Os museus viveram notáveis transformações nas últimas décadas, tendo provocado forte impacto na vida social e cultural, em todo o mundo. Hou- ve conquistas consideráveis no campo museal, e os avanços tecnológicos ensejaram inovações marcantes em termos de projetos museográficos. As iniciativas pedagógicas abriram as instituições para o universo da educação, por meio de um viés criativo e envolvente. Reconheceu-se a função social do museu, que se voltou para as comunidades em que se acha inserido, promo- vendo a participação e a inclusão.
O turismo ressaltou a força econômica dos museus e demonstra a importância do investi- mento que neles se deve fazer. Mais de 10 mi- lhões de pessoas visitam anualmente o Louvre. Cidades apareceram no mapa em função dos museus que inventaram ou renovaram, seja em Bilbao, na Espanha, ou em Brumadinho, Minas Gerais, que viu nascer o sensacional Museu de Inhotim. O Masp, o Museu da Língua Portugue-São Paulo, o MAR e os museus nacionais do Rio de Janeiro, o Museu Iberê Camargo, em
Porto Alegre, o Museu do Mar, em São Francis- co do Sul, SC, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, o Museu Nacional, em Brasília, o Mu- seu da Vale, em Vitória, o Museu de Artes e Ofí- cios, em Belo Horizonte, e o Museu Emílio Go- eldi, em Belém, acham-se entre muitos dos que evidenciam essa presença convergente na vida das cidades brasileiras.
Hugues de Varine, admirado museólogo fran- cês que trabalhou com Georges Rivière e foi di- retor do Icom (Conselho Internacional de Mu- seus, organismo ligado à Unesco), aparece como um pioneiro em museologia social. Ao trabalhar com originalidade os conceitos de ecomuseu, ele defendeu a função social para que o museu se torne, de fato, uma ferramenta moderna de mu- dança social, de maneira a promover a inclusão de segmentos marginalizados.
As ideias desenvolvidas por Varine ganharam ressonância internacional na Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972. Encontro promovi- do pelo Icom tratou de clarificar meios e proces- sos pelos quais as sociedades que alcançam con- servar e musealizar suas lembranças, dos meno- res objetos a obras de arte e monumentos, devem também preocupar-se com a formação, amplia- ção e participação do público, a começar da po- pulação que vive à volta dos museus, muitas ve- zes detida longe de suas portas. O conservacio- nismo não implica o conservadorismo; pelo con- trário, requer ações inovadoras e dinâmicas na trajetória dos museus.
O museu integral deve levar em conta a tota- lidade dos problemas da sociedade, e o museu como ação deve ser instrumento dinâmico da mudança social. Para além da missão de coleta e conservação de bens, o museu se liga a um con- ceito de patrimônio global a ser administrado em favor do interesse do homem e de todos os ho- mens. Evoluiu-se na possibilidade de captar e conservar, entendendo-se que os museus devem vivenciar e compartilhar experiências culturais que abranjam as sociedades a que se destinam precipuamente. Mais do que “a realização siste- mática do espírito de coleção institucional, fazendo das obras monstros sagrados, objetos cria- tivos absolutos”, os museus precisam se abrir e participar. O físico Charles inventou, no século XVIII, um instrumento que permitia a ampliação de um ou de outro fragmento de um objeto de museu, como lembra Jean Claude Chirollet. Agora, precisamos buscar meios ilimitados para que possamos reaprender a ver os objetos e a própria função do museu.
Foi na esteira dessa evolução afirmativa, per- cebida nos mais variados países, que o Brasil inaugurou, há dez anos, no início do primeiro mandato do presidente Lula e da gestão de Gil- berto Gil na pasta da Cultura, uma política nacio- nal de museus. O programa implementado lo- grou êxito, por sobre naturais entreveros da bu- rocracia e da política. Seguindo suas diretrizes, surgiu um departamento pertinente, no quadro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, no qual mais de 30 deles então se abrigavam sem uma coordenação efetiva e uma agenda minimamente adequada às dimen- sões do setor.
Emancipação dos museus
No fim dos anos 1970, quando Aloísio Ma- galhães dirigiu o setor cultural do MEC e plantou as bases do Ministério criado em 1985, ensaiou-se uma política de museus que teve os mecanismos, já em estágio adiantado de desempenho, suprimidos pelo colapso da ação federal na cultura, em 1990. O ministro Gilberto Gil, 13 anos mais tarde, deu ênfase ao campo museológico e viabilizou o citado de- partamento, que se efetivou por entre arestas e atritos no bojo do Iphan. No entanto, tudo indicou o caminho direto rumo à emancipação da área, com a criação do Instituto Brasileiro de Museus, Ibram, em janeiro de 2009, simul- taneamente à promulgação da lei que instituiu o Estatuto de Museus. O país ganhou, assim, um organismo próprio para os assuntos museo- lógicos, como, ainda, um diploma legal, abran- gente e objetivo, sobre todas as direções e diretrizes aplicáveis no campo no qual se desem- penham tais instituições públicas e privadas.
A instalação do Ibram e o advento do Estatuto de Museus ocorreram seis anos após o lançamento do programa, no Ministério da Cultura e dentro do Iphan. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff, em 18 de outubro de 2013, está quatro anos distante daqueles marcos. Nesse período, que não se pode dizer curto, profissionais de mu- seus, cursos superiores de museologia – 14 exis- tem hoje no país –, secretarias de cultura, sistemas estaduais e municipais, especialistas e estudiosos se debruçaram sobre a matéria, evidenciando a ex- tensão das possibilidades abertas e o valor dos fru- tos incessantemente colhidos.
A propósito do decreto regulamentador do Estatuto de Museus, cumpre lembrar que o decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937, definidor da política brasileira de patrimônio cultural, já assegurava, em linhas gerais, prati- camente a maioria das iniciativas agora adota- das com as especificidades demandadas pelo campo dos museus. De igual modo, a legisla- ção sobre arquivos (lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991) também permitiria a prática de atos que hoje têm a característica própria do setor museológico. Versões contraditórias sobre o decreto da presidente da República quiseram conferir-lhe as conotações de um instrumento ameaçador de iminente confisco, de desapro- priação e até de interdição do mercado de arte. Felizmente, logo o debate esclarecedor, entre especialistas e profissionais, sobretudo gente do mercado de arte, explicitou as questões e iluminou a prática que se deseja cumprida em favor da salvaguarda dos bens que conformam a memória patrimonial do Brasil. O que há é o fortalecimento da base legal sobre a qual se as- senta o programa de valorização dos museus e de proteção de bens e acervos.
A política nacional de museus tem seu mapa estratégico desenhado pela lei de 2009 e o decre- to de 2013. O Plano Nacional Setorial de Mu- seus, integrante do Plano Nacional de Cultura, prevê ações em diversas áreas: gestão museal; preservação, aquisição e democratização dos acervos; formação e capacitação; educação e ação social; modernização e segurança; econo- mia dos museus; acessibilidade e sustentabilida- de ambiental; comunicação e exposições; pes- quisa e inovação. A legislação estabelece o Re- gistro de Museus, que tem por objetivo a forma- lização das dinâmicas de criação, fusão, incorpo- ração, cisão ou extinção das instituições museo- lógicas. É um ato administrativo operado pelo Ibram em parceria com os entes federados, e os dados levantados são compartilhados por meio do Sistema Nacional de Informações e Indicado- res Culturais, do Ministério da Cultura. Compete também ao Ibram aprovar a utilização da deno- minação de Museu Nacional, bem como conferir a condição de Museu Associado a instituições que mereçam especial reconhecimento e parce- ria. O Cadastro Nacional de Museus, parte do Sistema Brasileiro de Museus, é a ferramenta principal para conhecimento do universo museo- lógico do Brasil, sendo o centro de informações para os sistemas informatizados ligados ao Ibram. O cadastramento é voluntário.
Possibilidades se inauguram no Brasil
O Inventário Nacional de Bens Musealizados é o sistema que promove a documentação e a difusão dos milhões de bens culturais preserva- dos nas instituições brasileiras. O Cadastro Na- cional de Bens Culturais Desaparecidos tem pa- pel relevante com vistas à localização e a recupe- ração desse patrimônio. Assegura-se aos museus o direito de utilização de imagens e reproduções de bens culturais e documentos pertencentes a seus acervos, em sintonia com a legislação geral de direitos autorais. Os museus terão Regimento Interno e um Plano Museológico, essencial para o planejamento estratégico de cada instituição.
As Associações de Amigos dos Museus fo- ram contempladas pelo decreto, de acordo com as melhores expectativas, eliminando-se contro- vérsias sobre as relações entre os entes. Os mu- seus podem, agora, estimular a sua constituição, e devem elas contribuir para o desenvolvimento e a preservação do patrimônio museológico.
A Declaração de Interesse Público asseme- lha-se ao tombamento processado no âmbito do Iphan, desde 1938. Vale o objetivo comum de proteger o patrimônio cultural, integrado ou não aos museus. Fundamenta-se em princípios emi- nentemente técnicos, garantindo a manifestação dos proprietários ou responsáveis pelos bens em foco, sem implicar restrições ao direito de propriedade e venda. O Ibram tem o direito de preferência na hora da compra, também como já ocorria com o Iphan, e isso não é impedimento para a venda a terceiros. Qualquer cidadão pode solicitar ao Ibram a abertura de processo de De- claração de Interesse Público de um bem ou uma coleção. Monta-se, então, o dossiê perti- nente, a ser encaminhado ao Conselho do Patri- mônio Museológico, formado por representan- tes de oito instituições e por 13 personalidades do setor. Um dos membros torna-se o relator e encaminha a votação, devendo a decisão ser ho- mologada pelo ministro da Cultura. O bem pode ser vendido ou deixar o país, o que implica so- mente uma informação ao Ibram.
Possibilidades estimulantes se inauguram em todo o Brasil. Ao promover, anualmente, a Semana Nacional de Museus, em maio, e a Pri- mavera de Museus, em setembro, organizar cur- sos de gestão, encontros, fóruns, seminários, o Ibram mobiliza e incentiva atividades vitais para o aprimoramento do setor. Na presidência do comitê intergovernamental do Programa Ibermuseus, que reúne os países ibero-america- nos, o Ibram desenvolve intenso intercâmbio internacional. A cooperação atinge diversos ou- tros países, como a França e o acordo com a École du Louvre para a formação de especialis- tas brasileiros. Memorandos de entendimentos foram firmados com a American Alliance of Museums, dos EUA, e os governos da Áustria e da Dinamarca. O congresso mundial do Icom, em agosto, no Rio de Janeiro, tornou evidente a vitalidade dos museus brasileiros.
Quando se visita o Museu Histórico Nacio- nal, no Rio de Janeiro, e se compara o que foi ele, na década de 1920, quando criado por Gustavo Barroso, e é agora, pode-se facilmente constatar o salto qualitativo, em termos de aperfeiçoamen- to da museologia, em todas as suas dimensões. Há um esforço enorme nesse sentido, em todo o Brasil, a fim de que os museus se transformem e possam cumprir o papel que o público demanda sempre mais intensamente.
Temas que preocupam o setor
Se tudo parece evoluir muito bem, não custa lembrar que os desafios são igualmente mo- numentais. A globalização, as crises econômicas, as transformações da economia pública, a ascen- são do mercado de arte, a internacionalização e a mutação dos públicos, as evoluções demo- gráficas, as mudanças nas práticas culturais, o desenvolvimento da comunicação global e das ferramentas tecnológicas redesenham a socie- dade do amanhã. Segundo a museóloga francesa Catherine Grenier, são esses temas que devem preocupar o setor, confrontado com os custos de manutenção e a complexidade da gestão e da conservação dos museus.
Justificam-se, por isso mesmo, as medidas de organização da gestão museológica e do papel dos museus na atualidade. Eles devem estar pre- parados para tantas transformações que agitam o mundo. A experiência acumulada e o empenho com que, hoje, se afirma uma política pública de museus no país anunciam, por sobre o avanço das conquistas, a continuidade do sucesso do tra- balho em pleno curso.
Artigos e comentários de autores convidados não refletem, necessariamente, a opinião da revista Interesse Nacional